Primeiro Artigo: Hegel
Há dois pensadores relativamente recentes, tão frequentemente lembrados e mal compreendidos na nossa época, que ouso embarcar na perigosa tarefa de discutir mais uma vez, e do modo menos técnico possível, seus temperamentos pessoais e sua significância como filósofos. Estes pensadores são Hegel e Schopenhauer. Ninguém é mais consciente que eu do quão pouco pode ser dito dos seus sistemas metafísicos no espaço de dois artigos dirigidos ao leitor genérico. Minha escusa, no entanto, para o presente empreendimento, é dupla. Primeiro, penso que algo mais se compreenderá de ambos apenas pelo fato de serem colocados lado a lado. Com todos os seus contrastes e divergências aparentemente insolúveis, eles possuem, como veremos, certas similaridades marcantes; e estas, apropriadamente expostas, iluminarão aquele mundo de paixão e paradoxos dos quais os dois emergiram, e cujos problemas eles tão sugestivamente incorporaram. Este mundo é, nomeadamente, o trágico e admirável mundo da nossa moderna vida do século XIX. Os filósofos não inventaram seus paradoxos, apenas os expressaram, cada um a seu modo. Em segundo lugar, há a desculpa generalizada para todos as dissertações como esta: se é impossível descrever brevemente as complexidades técnicas de qualquer sistema metafísico, também é verdade que todo grande pensador é muito maior que seu sistema. Ele é um pensador de temperamento notável, com uma atitude crítica às paixões da vida real — uma atitude que seus livros buscam incorporar, mas que possui interesse humano além dos livros. Seu maior deserto está muitas vezes nisto, no fato de que ele nos diz algo do significado da sua época. Suas especulações sobre o Absoluto podem nos desorientar. Sobre as paixões humanas, crenças, esperanças, ideais, ele é certamente instrutivo, só porque estas coisas fornecem o motivo e o verdadeiro terreno das suas especulações. Daí há um sentido pelo qual temos o direito de tratar o mais técnico dos filósofos de um modo literário e não-técnico, na medida em que ele é um representante do seu tempo, um homem que dá voz aos seus interesses, fornece uma expressão consciente das suas crenças e nos expõe os seus problemas.
Ninguém pode, entretanto, tornar clara a significação de um pensador sem expor algo das suas relações históricas. Portanto, terei de começar com algumas palavras sobre o curso do pensamento moderno desde a época de Kant, para então chegar em Hegel, a quem o restante deste trabalho será devotado. Um artigo futuro tratará de Schopenhauer.
I.
A filosofia moderna, como hoje usamos o termo, é um acontecimento recente, data apenas do século XVII. Desde então, entretanto, a filosofia passou por diversos períodos, que para os nossos propósitos reduziremos a três.
O primeiro período chamaremos naturalismo, pura e simplesmente. Os filósofos dessa época deixaram de contemplar o céu da piedade medieval, e se dispuseram a deificar a natureza. Eles adoravam a rigidez dos métodos geométricos. Eles amavam o estudo da nova ciência física que Galileu inaugurou. O homem eles concebiam, até onde era possível, como um mecanismo. Assim que os lemos eles nos parecem frios, formais, terrivelmente sistemáticos, no mau sentido. Em seus íntimos, entretanto, não lhes faltava profunda piedade. A natureza que eles deificaram possui sua dignidade magnificente. Ela não respeita os nossos sentimentalismos, mas também não incorpora uma justiça atroz. A ela você rezaria em vão, mas a interrogaria sem medo, pois em seu seio ela não esconde segredos mágicos e encantadores que significariam, a uma palavra infeliz, perigo ao investigador. Ela não nota insultos; não arruína um inquiridor por sua irreverência. Essa natureza é uma natureza sábia. Os melhores dentre os seus filhos são os que trabalham mais pacientemente para conhecer suas leis. O fraco ela esmaga, mas o ponderado ela honra. Ela não é milagrosa, mas suas leis são um tesouro inesgotável de recursos para o conhecimento. Na verdade, o conhecimento destas leis é o fim último da vida humana.
Em forte contraste, no entanto, a esta confiança nas leis da natureza exterior e na absoluta validez da razão, está o espírito de introspecção e ceticismo que se desenvolveu lentamente durante o segundo período do pensamento moderno — um período que, iniciado já antes do fim do século XVII, culminou em Kant. Este período ama, acima de tudo, o estudo do maravilhoso mundo interior da alma humana. O homem é a coisa mais interessante na natureza, e ele não foi ainda deificado; nem poderia ser antes que conhecêssemos verdadeiramente o seu coração caprichoso. Ele pode ou não ser parte do mecanismo da natureza; mas, se ele é um mecanismo, ele é das coisas a mais paradoxal, um mecanismo que conhece. Seu conhecimento em si, o que é, como surge, de onde vem, como cresce, o que significa, como pode ser defendido contra o ceticismo, o que implica, tanto para a verdade moral quanto para a teorética — estes problemas concentram-se sobretudo nos interesses do segundo período do pensamento moderno. A reflexão é agora mais subjetiva, uma análise da mente mais do que um exame dos negócios da ciência física. A razão humana ainda é, em primeiro lugar, o instrumento confiável, mas não tarda para voltar seu criticismo contra si. Ela distingue preconceitos de axiomas, teme o dogmatismo, escrutiniza as evidências da fé, suspeita, ou, no melhor dos casos, defende conscientemente, mesmo a aparentemente irresistível autoridade da consciência, e assim começa, finalmente, na pessoa do maior dos pensadores ingleses do século XVIII, David Hume, a questionar inclusive a própria capacidade de conhecer a verdade — uma atitude de dúvida que leva a filosofia a uma afiada e admitida oposição contra o senso comum. Neste estágio, entretanto, um novo interesse nasce na Europa. Se a época já se dispunha à autoanálise, Rousseau, com seus paradoxos e seu amor patológico ao autoescrutínio ilimitado, introduziu neste período de amor ao homem uma tendência sentimental, da qual logo surgiria um renascimento da paixão, da poesia e do entusiasmo, cuja influência nós talvez nunca superemos. Não tardou para vir o período “tempestade e ímpeto” da literatura alemã; e assim que ele percorreu seu curso, a Revolução Francesa, derrubando todas barreiras mecânicas da civilização, demonstrou a importância central da paixão em toda a vida da humanidade.
A filosofia de Kant, desenvolvendo-se na silenciosa solidão dos seus estudos profissionais em Königsberg, no extremo-oriente prussiano, refletiu com a mais admirável ingenuidade os interesses essenciais da época em que toda essa transformação se preparava. Em 1781 ele publicou sua Crítica da Razão Pura, próximo de ser, se não foi, o tratado filosófico mais importante já escrito. A doutrina essencial deste livro é o pensamento de que a natureza humana é a verdadeira criadora do mundo humano. Não é o mundo exterior como tal o que é para nós a verdade mais profunda; é a estrutura interna do espírito humano, que meramente expressa a si mesma na natureza visível. O interesse deste pensamento paradoxal de Kant não recai tanto na originalidade da concepção, já que filósofos nunca inventam crenças fundamentais, e esta ideia de Kant é tão velha quanto a mais profunda fé, mas na calma, desapaixonada e impiedosa ingenuidade crítica com a qual ele a elabora. Escrito antes da Revolução Francesa, o livro parece uma espécie de justificação deliberada da orgulhosa consciência dos direitos absolutos do homem, com os quais, num poderoso esforço, o espírito humano se impôs ante toda restrição exterior, e declarou, como aqui na América já fizemos, que, para a humanidade, o verdadeiro mundo é o mundo que o homem livre faz, e que a ordem genuinamente natural é aquela que não é exterior senão quando a razão decreta que ela deve existir.
Uma visão mais detalhada da filosofia kantiana nos levaria para muito longe. Felizmente, as linhas mais gerais da sua doutrina são, em certa medida, de conhecimento popular. Como é sabido, ele sustentou que o sujeito humano encontra-se na presença, diriam alguns, de um mundo de aparências — um mundo no tempo e no espaço — que, quando analisado, possui o caráter mais curioso e desconcertante. Em primeiro lugar, como Kant sustenta, pode-se demonstrar que tempo e espaço são o que os filósofos chamam “formas” da nossa própria “percepção sensível”, e não formas ou propriedades de coisas reais fora de nós. Desta análise, Kant afirma que as “coisas em si”, seja o que forem, escondidas por trás do nosso mundo sensível, não são nem espaciais nem temporais em natureza, e que por esta mesma razão são incognoscíveis. Podemos saber que existem, mas descobrir o que são está absolutamente além do nosso poder. Os objetos, entretanto, do nosso próprio mundo de aparências, as coisas no espaço e no tempo, como existem para nós, talvez sejam o resultado da ação das coisas em si sobre os sentidos, mas são para nós apenas nossos objetos, tornados possíveis pelas leis da nossa própria natureza.
O significado destas leis da nossa própria natureza talvez fique mais claro se nos lembrarmos do fato de que o mundo da nossa experiência ordinária não é meramente um mundo de sensibilidade, mas também um mundo de “Entendimento”, isto é, um mundo onde a ordem reina, onde as coisas acontecem segundo regramentos, onde se pode estudar a conexão de causa e efeito, onde uma conduta de vida praticamente sã e um estudo da natureza teoreticamente razoável são possíveis. No entanto, como vimos, apesar de toda esta ordem, o mundo da experiência não é um mundo de coisas exteriores genuínas, mas é o nosso próprio mundo de coisas aparentes. Como, então, ele possui esta ordenação irresistível, este caráter objetivamente fixo, que nós o atribuímos? A resposta de Kant é da mais profunda sutileza e ingenuidade. Não posso dá-la com as suas palavras, mas devo sugeri-la com as minhas próprias, já que tudo o que seguirá neste texto terá relação com este pensamento de Kant.
Cada um de nós, especificamente, é, segundo Kant, ao mesmo tempo um Eu Total, uma Pessoa, cuja vida sensitiva de algum modo se ajunta para formar Uma Vida; e cada um de nós também é, curiosamente, o que Kant chama de Eu Empírico — isto é, uma criatura do momento, um ser fragmentário, que voa de uma experiência a outra e que capta o mundo como ele vem. O eu fragmentário do momento, não obstante, tenta constantemente pensar a si mesmo com referência à própria experiência total. Eu, por exemplo, sinto agora este todo de impressões: vejo este papel, a inscrição sobre ele, esta mesa, esta luz, este quarto. Mas, também, faço mais do que meramente ver e sentir o momento; pois sei quem sou. Tenho para mim um passado, um futuro, uma personalidade. Minha experiência presente é parte do meu eu total. Só como tal ele é reconhecível para mim. Se não sei quem, no todo, eu sou, não sei nada. Mas, então, como eu sei quem sou? Apenas, diz Kant, levando minha experiência passada a alguma relação ordenada com o meu eu mais abrangente, a toda a minha experiência.; e isto só posso fazer em virtude do que Kant chama certas Categorias, Formas de Pensamento, como a minha ideia de Causa, pela qual eu, neste momento, estou ligado na forma de tempo ao meu próprio passado. Reconheço a mim mesmo como esta pessoa apenas porque concebo em pensamento alguma relação causal ou racional entre este momento fugaz e todas as minhas outras experiências. Penso em meu mundo como unidade porque penso em mim mesmo como unidade. Todas as minhas experiências ajuntam-se em uma única experiência. “Se eu sou eu, como penso que sou”, então, por esta mesma razão, meu mundo de aparências deve ter uma ordem; não pode ser desordenado, confuso, insano. Para preservar, portanto, minha própria sanidade (chamada por Kant “Unidade de Apercepção”), para salvar-me de uma simples confusão de ideias, devo ter o poder de dar fixidez ao mundo da minha experiência. Logo, como afirma Kant, o Entendimento cria as próprias leis da natureza.
É necessário que notemos a característica principal desta doutrina de Kant. A segurança de que a natureza possui leis rígidas e racionais foi, como vimos, fundamental na filosofia do século XVII — fundamental e inquestionável. A época de Hume veio para questionar esta segurança. Como pode nossa razão, ao exigir que as coisas se conformem a leis, estar certa de que suas exigências concordam com a natureza das coisas? A resposta de Kant é essencialmente esta: porque o mundo natural é absolutamente nosso mundo, o mundo das nossas formas sensoriais de tempo e espaço; e porque, também, as leis sobre as quais a própria sanidade da nossa consciência depende são leis que asseguram que este, nosso mundo, deve possuir uma ordem rígida. Como Kant substancialmente sustenta, uma autoconsciência sã sempre apela ao momentâneo em direção ao Eu Total; e tal apelo define o momento em relações ordenadas para o Eu Total, unindo esta experiência fugaz com a Experiência Una. A característica central de Kant é, portanto, esta doutrina da relação entre o momentâneo e o eu completo.
Tão longo quanto esse resumo possa parecer, ele é necessário para nos levar aonde possamos entender o terceiro período do pensamento moderno, ao qual Hegel pertence. Para os primeiros pensadores pós-kantianos, a doutrina “Este mundo é nosso mundo, e para nós as coisas em si são inacessíveis” é, num todo, tão fundamental que, por um momento, muitos deles jogaram todas as coisas em si para fora de campo, negaram suas existências e devotaram seus principais estudos à consideração do problema central de Kant, a relação do eu momentâneo com o Eu Universal. Desses homens, a proeminência coube primeiro a Fichte, e depois aos principais pensadores da Escola Romântica, incluindo Schelling no seu primeiro período. Deste Eu Total kantiano, o verdadeiro Eu para quem eu, o eu transiente, sempre apelo, estes últimos especuladores logo fizeram um Absoluto, isto é, um Eu cuja experiência completa abarca não apenas minha vida privada, mas toda vida finita; cuja unidade impõe lei não apenas ao meu mundo de aparências, mas também ao mundo de toda a inteligência; em resumo, um Logos, cuja posição é mais uma vez divina, e cujo mundo de coisas aparentes é, para nós seres finitos, uma natureza verdadeira e irresistível, assim como foi reverenciada pelo século XVII. Kant, como se sabe, não encontrou em sua doutrina subjetiva nenhuma prova teorética da existência de Deus, e, de acordo com ele, só se postula um Absoluto por trás da nossa experiência por razões éticas. Mas esses idealistas românticos encontraram na doutrina mesma de Kant a base essencial do que lhes pareceu um Teísmo mais alto. Quem é este Eu Total ao qual todos apelamos, em quem vivemos, nos movemos e somos, senão o verdadeiro e divino Eu, a videira da qual somos os ramos? Assim Fichte já havia sugerido em um estágio precoce, e o desenvolvimento deste pensamento em formas numerosas e decididamente vagas é característica de toda a Escola Romântica.
Um retorno, então, à universal e divinamente soberana Verdade exterior do século XVII, com uma interpretação feita à luz do pensamento kantiano; uma aceitação da doutrina de Kant de que o Eu é o provedor de leis da natureza, e ainda uma síntese disto com a doutrina de que há um Absoluto além da nossa consciência finita — esta era a empreitada do começo do terceiro período da filosofia moderna.
Mas, como deve ser logo apontado, nem Hegel nem Schopenhauer podem ser descritos com justiça se dissermos que eles expressaram sem modificar essa noção do Absoluto: não Hegel, porque com ele toda a ênfase recai sobre o seu próprio modo de desenvolver sua peculiar “Noção” do que é o Eu Absoluto; não Schopenhauer, porque, embora ele também tenha chegado à concepção de um Absoluto a partir de uma perspectiva kantiana, ele condenou completamente qualquer tentativa de chamá-la de um Eu, ou de um Logos, ou de Deus. Ainda assim, ambos os pensadores tiveram parte no grande movimento cujo fim era universalizar a doutrina puramente subjetiva do conhecimento de Kant.
II.
De fato, Hegel tinha muito em comum com os idealistas da Escola Romântica, mas o seu temperamento era profundamente distinto. Eles alcançaram seu Eu Absoluto através de variados métodos místicos, senão superficiais, que não posso expor aqui. Hegel odiava caminhos fáceis em filosofia e abominava o misticismo. Primeiro, então, em seus estudos privados, ele se agarrou ao modo original com que Kant tratava os problemas da nova filosofia até encontrar a própria maneira de refletir. Para entender o que era esta maneira, devemos nos voltar ao homem que ele foi.
No entanto, já que me porei a falar do temperamento de Hegel, devo antes apontar que, de todos os pensadores de primeira categoria, ele é, pessoalmente, daqueles de pouca imponência na vida e no caráter. Kant era um homem cujo vigor intelectual e heroica elevação moral contrastavam com a fraqueza da sua presença corporal, que, apesar de tudo, tinha algo de sublime. A arrogância solitária e quase principesca de Spinoza lhe dava, junto ao seu misticismo religioso, uma constituição graciosa e a própria nobreza do isolamento. Mas Hegel não possui em nenhum sentido uma postura graciosa ou heroica. Sua dignidade é a dignidade do seu trabalho. Além do que conquistou, e do temperamento que tornou isto possível, não há nada de marcante no homem. Ele foi um suabiano perspicaz, nascido estudioso, um professor de sucesso, dono de si, decididamente engenhoso, impiedoso com seus inimigos, às vezes briguento, à maneira bastante cruel do erudito alemão, calmo e metódico no restante da sua vida oficial; um disciplinador afiado quando tinha de lidar com jovens ou subordinados, um pouco servil quando lidava com superiores oficiais ou sociais. O seu biógrafo, Rosenkranz, conta-nos de muitos dos seus interesses privados: quase nenhum é interessante. Ele não foi um patriota, como Fichte; um sonhador romântico, como Novalis; um profeta de esplêndidas visões metafísicas, como Schelling. Sua carreira é absolutamente desprovida de romance. Nós até possuímos uma ou duas das suas cartas de amor. São constrangedoras e deprimentes além da medida. Sua vida interior não tinha crises, ou ele as escondeu obstinadamente. No trato com os amigos, como, por exemplo, Schelling, ele era astuto e magistral; usava as pessoas por vantagem enquanto eram necessárias, e inescrupulosamente virava-se contra elas quando já não serviam aos seus objetivos. Em caráter oficial, sua vida era de fato ilibada. Foi um servo fiel dos seus sucessivos mestres, e colheu, sem dúvidas, suas recompensas mundanas. Seus alunos o lisonjeavam, e portanto o tratavam bem. Mas contra seus oponentes ele mostrava pouca cortesia. Até o fim permaneceu um homem egoísta, determinado, laborioso, crítico e áspero, fiel ao seu escritório e à sua casa, leal aos seus empregados, cruel aos seus inimigos; um homem que não pedia misericórdia em controvérsia, tampouco a mostrava. O seu estilo, nos livros publicados, é marcado por profunda ingenuidade e maravilhosa precisão, mas, por outro lado, é notoriamente um dos mais bárbaros, técnicos e obscuros em toda a história da filosofia. Se suas aulas são mais fluidas e agradáveis, são, como um todo, menos compreensíveis. Ele fazia pouco para atrair o leitor e tudo para tornar o caminho longo e doloroso ao estudante. Nada disso é inépcia; é escolha deliberada. Ele se orgulha do seu barbarismo. E, ainda assim — eis o milagre — este sujeito desagradável e nada heroico é um dos mais notáveis de todos os instrumentos através dos quais, em nossos tempos, o Espírito falou. Não nos cabe compreender este vento que sopra onde quer. Cabe-nos apensar ouvir o seu som.
George Wilhelm Friedrich Hegel nasceu em agosto de 1770, em Stuttgart. Sua família representava o tipo suabiano; o ambiente favorecia um aprendizado laborioso, mas altamente pedante. No ginásio em Stuttgart, que ele passou a frequentar com sete anos, foi, no geral, um menino extraordinariamente saudável e estudioso. Dos quinze aos dezessete anos nós o encontramos mantendo um diário, do qual Rosenkranz publicou grandes fragmentos. Os diários sentimentais contrastam fortemente com aquela juventude característica de gênio que se esperaria dele naqueles dias. Na verdade, até então não havia promessa de genialidade no jovem Hegel. Seu diário segue mais ou menos este estilo: “Terça-feira, 28 de junho [1785]. Observei hoje que diferentes impressões a mesma coisa pode dar a diferentes pessoas. ... Eu estava comendo cerejas com um apetite excelente, e me divertindo, ... quando alguém, com certeza mais velho que eu, olhou-me com indiferença, e disse que na juventude se pensa que não é possível passar por uma cerejeira sem ficar com água na boca pelas cerejas (como nós suabianos costumamos dizer), mas que em idades avançadas pode-se passar toda uma primavera sem sentir o mesmo desejo por estas coisas. Daí pensei no seguinte princípio, bastante doloroso para mim, mas ainda assim profundo, a saber, que na juventude ... não se pode comer tanto quanto se quer, e que em idades avançadas não se quer comer tanto quanto se pode.”
Este era o filósofo Hegel com quinze anos de idade. Seu diário nunca registrou um acontecimento genuíno. Nada parece ter acontecido com este pequeno devorador de cerejas e conhecimento, exceto maravilhas como aquela do dia em que ele aprendeu, na igreja, a data da Confissão de Augsburg; ou quando, durante um passeio, um dos seus professores disseram-lhe que toda coisa boa tem seu lado ruim; ou quando, durante outro passeio, o professor tentou lhe explicar por que julho e agosto são mais quentes que junho. Destes assuntos o diário está cheio, mas não se vê uma experiência interior de qualquer significância. Aspirações são proibidas. O garoto é bastante pedante, para não dizer um completo esnobe; mas isto, de qualquer forma, parece ser a principal característica do seu temperamento: ele é meticulosamente objetivo. Ele quer conhecer a vida como ela é em si mesma, não como ela é para ele; ele deseja o verdadeiro princípio das coisas, não sua interpretação particular e sentimental. Ao mesmo tempo, ele é bem instruído na fé religiosa, e dado ao então popular e um tanto superficial racionalismo que adorava tornar fácil a compreensão de todos os tipos de mistério. Ele devota algum espaço à explicação de histórias de fantasmas. Chega até a registrar fragmentos ocasionais do seco humor suabiano que, mais tarde, de forma muito melhorada, encontraria espaço nas suas palestras acadêmicas, e que viria a ser tão característico do seu estilo, para não dizer do seu sistema. A forma infantil desse interesse pelo grotesco pode ser assim exemplificada: “3 de janeiro de 1787. Eclipse total da lua: instrumentos preparados no ginásio, onde alguns se reuniram para ver; mas o céu estava muito nublado. Então o reitor nos disse o seguinte: quando era garoto, ele mesmo já havia saído com outros garotos, à noite, com o pretexto de observar as estrelas. Na verdade, eles só perambularam. A polícia os encontrou, e ia levá-los sob custódia; mas os garotos do ginásio disseram: ‘estamos observando as estrelas’. ‘Não’, respondeu a polícia, “à noite vocês vão para a cama, as estrelas observem de dia”. Citei esta besteira porque, apesar de tudo, significa mais do que se poderia pensar. Aqui e em outros registros do jovem Hegel aparecem amostras de um certo deleite profundo no paradoxal, — um deleite que, às vezes apenas seco e humorado, às vezes fortemente intelectual, significaria pouco a outro temperamento, mas que é, no fim das contas, a tendência determinante da mente de Hegel.
Na verdade, se se tem olhos para ver, o temperamento hegeliano, embora não tenha toda a profundidade hegeliana, está, mesmo em fase tão precoce, quase completamente indicado. Do futuro gênio filosófico, como eu disse, não havia até aquele momento promessa; mas a atitude geral que esse gênio tornaria tão significativa já estava no jovem Hegel. Os traços presentes são, primeiro, uma enorme ganância intelectual, que acha todo tipo de aprendizado, mas sobretudo todo tipo de aprendizado humano e literário, extremamente interessante. O pedantismo que oprime o ginasiano germânico daquela época é aliviado por este humor suabiano seco e sarcástico que nota as excentricidades e a estupidez da natureza humana com entusiasmado apreço. O humor envolve um amor pelo grotesco, pelo paradoxal, pelo eternamente autocontraditório que há na vida humana. O Hegel maduro descobriria o significado profundo desses paradoxos; por ora, ele apenas os nota. Por fim, há um traço já manifestado que não é de pouca significância para a sua obra vital. É uma certa sensibilidade observadora para as formas dos processos conscientes de outras pessoas, unida a uma atitude singularmente fria e impessoal para criticar estes processos. Aqui, de fato, está uma característica de Hegel que, depois, em sua sabedoria madura, assumiu um lugar bastante proeminente, e que sempre fez dele, mesmo à parte do seu estilo, alguém muito difícil de ser compreendido por certas pessoas. Estamos acostumados na literatura com o homem que simpatiza pessoalmente com as paixões dos seus companheiros, e que, portanto, conhece seus corações com o calor do seu próprio coração. Conhecemos também aquele tipo de homem tragicamente clínico que, como Swift — não por conta da sua insensibilidade, mas pela sua amargura —, vê, ou escolhe descrever, na paixão apenas suas tolices. Além disso, somos rodeados pelos simplórios insensíveis, a quem a paixão é um mistério impenetrável, porque eles são naturalmente cegos à sua profundidade e valor. Mas o tipo de Hegel é um dos mais raros — a saber, aquele cujo representante, por assim dizer, lhe dirá, em algumas palavras sobrenaturalmente precisas, embora altamente técnicas, tudo o que você fez; que parecerá sondar seu coração do mesmo modo como um habilidoso especialista em doenças nervosas sondaria as profundezas secretas e misteriosas da consciência de um paciente mórbido; mas que, ao mesmo tempo, é ele mesmo aparentemente tão livre de experiências pessoais profundas de um tipo emocional como o médico é livre das teias mórbidas e nervosas do seu paciente. Hegel tem esse tipo quase profissional de sensibilidade sobre todo o seu direcionamento para a vida. Ninguém mais incisivo ou delicadamente vivo e vigilante que ele para compreender, mas ninguém mais impiedoso para dissecar, as mais sábias e tenras paixões do coração. E, ainda assim, em seu caso, não se trata apenas de impiedade. Quando ele analisa, não condena, não de maneira cínica. Depois da dissecação vem a reconstrução. Ele destaca o que considera ser o verdadeiramente humano na paixão, descreve os interesses religiosos e artísticos do homem, retrata as formas mais admiráveis de autoconsciência; e agora, de fato, seu discurso talvez assuma em alguns momentos um tom religioso, até místico. Ele enaltece, admira, caracteriza com aprovação o valor absoluto dessas coisas. Você sente que, enfim, encontrou seu coração também brilhando. Mas não, isto também é uma ilusão. Uma palavra logo o desenganará sobre as atitudes pessoais dele. Ele só engaja em seu ofício como um professor astuto; ele apenas explica o valor objetivo e verdadeiro das coisas; nada finge sobre a própria piedade ou riqueza de preocupações. Ele ainda é crítico. Sua admiração foi a aprovação do observador. Pessoalmente ele permanece o que era antes, intocado pelo brilho do coração dos próprios serafins.
No ano de 1788 Hegel entrou na universidade da sua província, em Tübingen. Lá ele estudou até 1793, quando de algum modo teve sua carreira acadêmica interrompida por problemas de saúde. Seu principal estudo era a teologia. Um certificado dado a ele na conclusão do seu curso declarava que ele era um homem de alguns dons e indústria, mas que não dava séria atenção à filosofia. Suas leituras, no entanto, foram muito variadas. Além de teologia, ele mostrou grande interesse pelas tragédias gregas. Suas amizades estudantis mais íntimas eram o jovem poeta Hölderlin e o próprio Schelling. Ninguém havia ainda detectado qualquer elemento de grandeza em Hegel.
A amizade com Schelling fora continuada na forma de correspondências. Duraram enquanto Hegel, um obscuro tutor familiar, passava os anos 1793 a 1796 na Suíça. Depois, em um cargo similar, ele trabalhou em Frankfurt sobre o Meno até o fim de 1800, quando, pela assistência de Schelling, encontrou uma oportunidade para aderir a uma carreira acadêmica na Universidade de Jena. Durante todos esses anos, Hegel amadureceu lentamente, e nada publicou. As cartas endereçadas a Schelling foram inteiramente escritas em tom lisonjeiro e receptivo. A filosofia tornou-se mais proeminente no pensamento e nas cartas de Hegel com o passar do tempo. Para Schelling, ele parecia ser o líder eleito da mais nova evolução do pensamento. Da filosofia kantiana, ele diz, um grande e novo movimento criativo nascerá, e a ideia central deste novo movimento será a doutrina do Absoluto e do Eu Infinito, cujo processo construtivo explicará as leis fundamentais do mundo. Esta noção foi expressa por Hegel já em 1795, quando ele tinha apenas vinte e cinco anos e Schelling apenas vinte. Mas sobre o desenvolvimento do novo sistema ele dá poucos ou nenhum sinal até 1800, quando estava prester a unir-se a Schelling em Jena. Então, como ele confessou a seu amigo, “o Ideal da minha juventude teve que assumir uma forma reflexiva, e tornou-se um sistema; e agora pergunto-me como posso retornar à vida e começar a influenciar pessoas.” Até este momento ele já havia, na verdade, escrito um esboço da sua futura doutrina, que já estava, no essencial, completamente definida. Na sua primeira aparição em Jena, no entanto, ele se contentou em aparecer como um colega, e até parcialmente como um expositor, de Schelling; e é provável que ele tenha propositadamente exagerado o acordo com seu amigo por ter encontrado na reputação e assistência de Schelling uma introdução valiosa no mundo letrado, onde o jovem romântico já era uma grande figura, enquanto Hegel era até então desconhecido. Em 1801 Hegel começou a dar aulas como Privat-Docent na Universidade. Em 1803 Schelling deixou a Universidade, e Hegel, agora dependendo apenas de si, não demorou a fazer segredo do fato de que ele possuía sua própria e relativamente independente filosofia, e que ele não poderia desde logo ter uma opinião final e definitiva sobre os escritos de seu amigo. Seu primeiro grande livro, a Phänomenologie des Geistes, finalizado mais ou menos junto à batalha de Jena, e publicado no início de 1807, completou sua separação de Schelling, cuja vagueza romântica ele impiedosamente ridicularizou, sem citar o próprio Schelling, no longo prefácio que inaugurava o livro. Em uma carta endereçada a Schelling, a qual acompanhava uma cópia da Phänomenologie, Hegel de fato explicou que sua ridicularização deveria ser entendida como um ataque ao mal uso que os seguidores de Schelling faziam do método romântico na filosofia; a linguagem do prefácio, no entanto, era inequívoca. Schelling respondeu secamente, e as correspondências acabaram. Depois do período de confusão que seguiu as batalhas de Jena, Hegel, que havia sido temporariamente forçado a abandonar a vida escolar, encontrou um cargo de diretor de ginásio em Nuremberg, onde se casou em 1811. Em 1816 ele foi chamado para ser professor de filosofia em Heidelberg. Ele já havia publicado sua Lógica. Em 1818 foi chamado a Berlim, e lá avançou rapidamente ao topo do sucesso acadêmico. Ele tinha muitos seguidores, ganhava favores especiais, alcançou uma posição quase despótica no mundo da filosofia alemã, e morreu de cólera, no auge da sua fama, em novembro de 1831.
Se agora passamos a caracterizar em poucas palavras a doutrina de Hegel, devemos antes de tudo nos libertar quase completamente daquela descrição tradicional do seu sistema, que foi repetida nas apostilas até quase todos esquecerem seu significado, e que veio, portanto, a ser aceita como verdade. Devemos, ademais, limitar nossa atenção à teoria hegeliana da natureza da autoconsciência, deixando de lado todo o estudo detalhado do restante do seu elaborado sistema. E, finalmente, devemos ser rudes com o nosso pensador assim como ele foi com todas as pessoas; devemos entender o que consideramos ser seu “Segredo” (emprestando a palavra do Dr. Stirling) a partir da linguagem peculiar com que Hegel escolheu expressá-lo e através da tumba sistemática onde ele teria insistido em enterrá-la. Desta forma tratada, a doutrina de Hegel aparecerá como uma análise do fundamental Paradoxo da nossa Consciência.
III.
O mundo da vida cotidiana, disse Kant, é conexo e bem ordenado não porque a ordem absoluta das coisas exteriores em si é conhecida por nós, mas (como eu reformulo Kant) porque somos sãos; porque nosso entendimento tem sua própria coerência, e deve enxergar sua experiência à luz dessa coerência. O idealismo já tirou sua própria conclusão de tudo isso. Se é assim, se é nosso entendimento o que na verdade cria a ordem da natureza para nós, então o problema de “como devo compreender meu mundo?” não é nada além do problema de “como devo entender a mim mesmo?”. Já sugerimos a que extravagâncias românticas o esforço de conhecer exaustivamente a vida interior levou. Parece existir alguma relação profunda, mas ainda assim vaga, entre meu próprio eu e um Eu Infinito. A esta vaga relação, que Fichte concebeu em termos puramente éticos e que os românticos tentaram captar por numerosos e fantásticos meios, a filosofia acostumou-se a apelar. Meu Eu Real é mais profundo que meu eu consciente, e este eu real é ilimitado, amplo, romântico, divino. Apenas poetas e outros gênios podem sonhá-lo com justeza. Mas ninguém pode dizer precisa e simplesmente, mit dürren Worten, o que ele significa. Ora, Hegel, um suabiano frio, severo e pouco romântico realmente acreditava no Eu Infinito, mas ele tratava toda aquela vagueza dos românticos com desprezo, senão com um certo humorismo rude. Ele apreciava todo aquele entusiasmo ao seu próprio modo exterior, é claro; ele poderia até mesmo usar o estilo sonhador, e houve uma vez, não por mérito da sua sabedoria, talvez não exatamente por mérito da sua honestidade, que ele o fez, em um ensaio precoce, publicado, devo observar, enquanto ainda era pupilo acadêmico de Schelling em Jena. Mas ele desprezava a vagueza, e quando chegou a hora ele o afirmou. Ainda assim, para Hegel, a grande questão da filosofia jaz exatamente onde os românticos a encontraram; sim, precisamente onde o próprio Kant a deixou. Minha consciência e meu eu presente não é o meu todo. Estou constantemente apelando ao meu próprio passado, ao meu próprio eu futuro, e ao meu eu profundo, também, como ele é agora. Seja o que for que afirmo, duvido ou nego, estou sempre vasculhando minha própria mente por provas, por apoio, por guiamento. Esta procura constitui, em um sentido, toda a minha vida mental ativa. Toda a filosofia se volta, como Kant demonstrou, ao entendimento de quem e do que eu sou; quem é meu eu mais profundo. Hegel reconhece isso; mas ele não fará sonho da questão. Ele empreende uma análise, portanto, que devemos aqui reformular ao nosso modo, e na maior parte com as nossas próprias ilustrações.
Examine-se a você mesmo qualquer instante. “Neste instante”, você diz, “eu conheço isto que é agora presente para mim — este sentimento, este som, este pensamento. Do passado e do futuro, das coisas remotas, de outras pessoas, posso conjecturar isto ou aquilo, mas apenas aqui e agora eu sei o que está aqui e agora para mim.” Sim, de fato; mas o que está aqui e agora para mim? Veja, mesmo que eu tente dizer, o aqui e agora esvaneceram. Eu conheço esta nota musical que ressoa, esta onda que quebra na praia. Não, não é assim; mesmo que eu tente dizer que agora sei, a nota já ressoou e cessou, a onda quebrou e outra onda curva-se para a sua queda. Não posso dizer “eu sei”. Devo sempre dizer “eu sabia”. Mas o que era isto que eu sabia? Já é passado, para sempre? Então como posso eu, agora, conhecê-lo? Vemos este paradoxo interminável da consciência, este voo eterno de mim para mim mesmo. Afinal, eu realmente conheço qualquer coisa duradoura ou momentaneamente acabada e claramente presente? É certo que não. Estou eternamente mudando de ideia. Tudo o que conheço, então, não é algum momento presente, mas o momento que acabou de passar, e que muda daquele momento para este. Meu eu momentâneo só tem conhecimento enquanto conhece, reconhece, aceita outro eu, o eu do momento que acabou de passar. E, mais uma vez, meu eu momentâneo é conhecido do eu do momento que sobrevém, e assim ocorre neste voo eterno e fatal. Tudo isto é um velho paradoxo. Você pode ilustrá-lo indefinidamente sob várias formas e nuances. Que não conheço minha mente presente, mas posso apenas revisar minha mente passada, é a razão, por exemplo, por que eu nunca sei precisamente que estou feliz no exato instante em que estou feliz. Depois de uma tarde alegre, posso pensar nela e dizer: “Sim, eu fui feliz. Tudo aquilo foi bom.” Só que, veja bem, a felicidade acabou. Ainda assim, você poderá dizer, eu sei que a memória da minha felicidade passada é em si mesma uma coisa feliz. Não, nem disto eu agora sei diretamente. Se reflito sobre a minha memória da alegria passada, vejo, mais uma vez, mas em uma segunda memória reflexiva, que minha memória prévia de alegria era em si mesma alegre. Mas, como se vê, obtenho cada nova alegria como minha em conhecimento apenas quando ela já deixou de ser. É a minha memória de quando há pouco estava alegre o que constitui o conhecimento da minha alegria. Este é, por um lado, um paradoxo triste. Eu só sinto minhas melhores alegrias quando as conheço menos, a saber, nos meus momentos menos reflexivos. Saber que me alegro é refletir, e refletir é lembrar uma alegria passada. Mas, certamente, então, alguém diria, quando eu sofro posso saber que sou miserável. Sim, mas, outra vez, apenas reflexivamente. Cada pontada é passado quando passo a saber que ela acabou de ser minha. “Acabou”, eu digo; “e agora?”. E é este horror do “e agora?”, este olhar para a minha angústia em lugar outro que o presente, a saber, no temível, vindouro e fatal futuro, o que constitui pontada mais profunda da solidão, da derrota, da vergonha ou do luto. Minhas ilustrações ainda são minhas, não de Hegel.
O resultado desta nossa teia, talvez muito elaborada, não precisamos buscar longe. Queríamos saber quem qualquer um de nós a qualquer momento é, e a resposta é que cada um de nós é aquilo que encontramos em outro momento da nossa vida reflexiva. É um fato misterioso e intrigante, mas é verdadeiro. Nenhum de nós conhece o que é agora; só podemos conhecer o que fomos. Cada um de nós, entretanto, é agora apenas o que no futuro descobriremos que foi. Este é o paradoxo mais profundo da vida interior. Temos autocontrole, autoapreensão, autoconhecimento, apenas através da interminável fuga de nós mesmo, e então olhamos para trás, para o que éramos. Mas esse paradoxo não está relacionado meramente a momentos. Ele se relaciona com toda a vida. A juventude não conhece a própria mente. A vida madura ou a velhice descobre reflexivamente uma parte do que a juventude significou, e amargura agora que o significado só se conhece depois que o jogo acaba. Todo sentimento, todo caráter, todo pensamento, toda vida, existe para nós apenas enquanto pode ser refletido, visto de fora, à distância, reconhecido por outro que não nós mesmos, reformulado nos termos de uma nova experiência. Permaneça onde você está, permaneça sozinho, isole sua vida, e então você não é nada. Relacione-se, exista para o seu próprio pensamento reflexivo, ou para o de outras pessoas, critique-se e seja criticado, observe-se e seja observado, exista e ao mesmo tempo olhe para si mesmo e seja olhado pelo exterior, e então, de fato, você é alguém — um Eu com consistência e vitalidade, um Ser com uma vida genuína.
Em resumo, portanto, considere-me momento após momento, ou considere-me no todo da minha vida, e isto torna-se o paradoxo da minha existência, a saber, que conheço a mim mesmo apenas enquanto sou conhecido ou enquanto posso ser conhecido por outro que meu eu presente e momentâneo. Deixe-me sozinho na autoconsciência deste instante, e eu encolherei para um simples átomo, um sentimento irreconhecível, um nada. Minha existência está em uma espécie de publicidade consciente da minha vida interior.
Deixe-me logo fazer uma analogia entre este fato da vida interior e o conhecido fato da vida social a que acabei de me referir. Esta analogia evidentemente atingiu Hegel com uma boa dose de força, como ele frequentemente se refere a ela. Todos nós sabemos, se uma vez já experimentamos, quão vazia e fantasmagórica é a uma vida vivida por muito tempo em absoluta solidão. Livre-me dos meus companheiros, deixe-me sozinho para conquistar a salvação do meu próprio e glorioso Eu, e certamente (assim espero), pela primeira vez, saberei quem realmente sou. Não, pelo contrário, neste caso eu simplesmente mostro quem eu não sou. Não sou mais amigo, irmão, companheiro, colega de trabalho, servo, cidadão, pai, filho; não existo para ninguém, e logo, talvez para minha surpresa, geralmente para o meu horror, descobrirei que eu não sou ninguém. Uma coisa significa a outra. No calabouço da minha autoconsciência isolada eu apodreço, ignorado e aterrorizado. A estupidez está diante de mim, e meu verdadeiro eu está muito atrás, naqueles vivos e amargos dias quando eu trabalhava e sofria com meus amigos. Minha emancipação dos outros é minha desgraça, a mais intolerável forma de servidão. Pudesse eu falar com uma alma viva! Se alguém soubesse de mim, olhasse para mim, pensasse em mim — sim, odiasse-me até — que abençoada seria a remição! Mas note, aqui, a analogia entre a vida interior que há em cada um de nós e a vida social que nós levamos. Dentro de mim, a regra afirma que vivo conscientemente apenas enquanto sou conhecido e refletido pela minha vida subsequente. Além do que é chamado meu eu privado, entretanto, uma regra similar se aplica. Existo em um sentido vital e humano apenas em relação aos meus amigos, meus negócios sociais, minha família, meus colegas de trabalho, meu mundo de outros eus. Esta é a regra da vida mental. Estamos acostumados a falar de consciência como se toda ela fosse um processo interno, que cada um realiza a cada momento apenas dentro de si e por si mesmo. Mas, no fim das contas, a que consciência nos referimos:? O que é o amor senão a consciência de que alguém lá está e que ou me ama (e então regozijo) ou não me ama (e então me entristeço ou invejo)? O que é autorrespeito senão um apelo consciente aos outros para que respeitem meu direito ou meu valor? E se nos referimos ao núcleo secreto de alguém, o que é isto senão aquela inquietação interna da vida consciente que ilustra, como dizemos, a impossibilidade de conhecer a mim mesmo exceto voltando-me ao meu eu passado? Veja, então, que não faz diferença o modo como você olha para mim; você encontra a mesma coisa. Toda Consciência é um apelo a outra Consciência. Esta é a essência. A vida interior é, como Hegel amava expressá-la, ebenso sehr uma vida exterior. Espiritualidade é apenas relação, comunhão de espíritos. Esta é a publicidade essencial da consciência, a partir da qual todos os segredos dos nossos corações são conhecidos.
Aqui, então, Hegel se vê diante de um processo na consciência por meio do qual meu Eu privado e aquele Eu mais profundo dos românticos talvez estejam mais definidamente conectados. Deixe-me expor este processo de forma um pouco abstrata. Um ser consciente é pensar, ou sentir, ou fazer algo. Muito bem, pois, é certo que ele deve pensar ou fazer isto, alguém diria, em algum momento. Que seja; mas como um ser consciente ele também é saber que pensa ou faz isto. Para este fim, entretanto, ele deve existir em mais de um momento. Ele deve antes agir, e então viver para saber que agiu. O eu que age é um; o eu que conhece o ato é outro. Logo, há pelo menos dois momentos, dois eus. Desde já vemos como o mesmo processo poderia ser repetido indefinidamente. Para conseguir conhecer a mim mesmo, devo viver indefinidamente uma numerosa série de atos e momentos. Devo tornar-me muitos eus, e viver na união e coerência deles. Suponha que o que o nosso ser autoconsciente deve fazer é provar uma posição em geometria. Enquanto ele prova, apela a alguém, seu outro eu, por assim dizer, para afirmar que sua prova é sólida. Ou, mais uma vez, suponha que o que ele faz é amar, odiar, suplicar, lastimar, implorar piedade, sentir orgulho, desprezar, exortar, sentir-se caridoso, buscar simpatia, conversar; realizar, em resumo, todos os atos sociais que, reunidos, façam o todo da nossa autoconsciência mais interior. Todos esses atos, vemos, envolvem no mínimo apelo a muitos eus, à sociedade, a outros espíritos. Sozinhos não temos vida. Não há apenas o Eu interior. Há o mundo de Eus. Vivemos em nossa coerência com outras pessoas, em nossas relações. Para resumir: do primeiro ao último, a lei da existência consciente é esta paradoxal, mas real, diferenciação do Eu, pela qual eu, o assim chamado Eu interior, sou completamente um de muitos Eus, de forma que meu Eu interior é já um Eu exterior, revelado, expressado. A única Mente é o mundo de muitas mentes relacionadas. É da essência da consciência encontrar sua realidade interior perdendo-se em relações exteriores, mas espirituais. Quem sou eu, então, neste momento? Apenas este nó de relacionamentos com outros momentos e outras pessoas. Eu converso ativamente e com absorção? Se sim, não sou nada além deste centro da consciência total de todos aqueles que estão absorvidos na conversa. E então é sempre da essência do Espírito diferenciar a si mesmo em muitos espíritos, e viver em seus relacionamentos, ser um apenas em virtude dessa coerência.
As ilustrações precedentes do paradoxo de Hegel, algumas das quais, nos últimos parágrafos, foram dele mesmo, ainda não começaram a sugerir quão múltiplas, segundo ele, são suas manifestações. Tão paradoxais e tão verdadeiras elas lhe parecem, entretanto, que ele busca mais analogias para o mesmo processo em outras regiões da nossa vida consciente. O que descobrimos é que, se devo ser eu, “como eu penso que sou”, devo ser mais do que simplesmente eu. Torno-me eu mesmo quando renuncio meu isolamento e me insiro na comunidade. Meu autocontrole é sempre e em todo caso autorrendição aos meus relacionamentos. Mas, então, este paradoxo do espírito não é aplicável a outros aspectos da vida? Uma lei similar não recai sobre tudo o que fazemos em um sentido ainda mais profundo? Se você quer atingir qualquer fim, não apenas o fim do autoconhecimento, mas, digamos, o fim de tornar-se santo, não é verdade que, curiosamente, será vão seu esforço para tornar-se santo se é apenas um esforço para a santidade? Apenas pura santidade, o que isto seria? Não ter pensamentos mundanos; ser pacífico, calmo, sereno, absolutamente puro em espírito, sem uma mancha ou mácula — isto seria mesmo nobre, não seria? Mas, considere: se alguém fosse assim elevado apenas por não ter um pensamento mundano, o que isto seria senão simples indiferença, inocência, puro vazio? Um querubinzinho inocente que, recém nascido na luz pura, nunca ouviu falar da existência de um mundo — ele seria, neste sentido, elevado. Mas é esta santidade a santidade triunfante daqueles que realmente se sobressaem em força? Claro, se eu nunca nem tivesse ouvido falar do mundo, não seria um amante do mundo. Mas a causa seria a minha ignorância. E uma variedade de coisas pode ser assim ignorante — querubins, jovens tigres, Judas ou Napoleões infantes. Sim, os próprios demônios do abismo podem ter surgido ignorando o universo. Até onde se sabe, eles ainda seriam sagrados. Mas, afinal, esta santidade vale alguma coisa como santidade? Vale, sem dúvidas, alguma coisa como inocência; basta observá-la. Um jovem tigre ou um bebê Napoleão cochilando, ou um recém criado demônio que ainda não passou da fase de querubim — nós todos deveríamos gostar de olhar criaturas tão bonitas. Mas tal santidade não é ideal para nós, agentes morais. Aqui estamos com o mundo em nossas mãos, já assolado com tentação e todas as aflições da nossa finitude. Para nós, santidade significa não a abolição do mundano, não inocência, não virar a face para o mundo, mas a vitória que supera o mundo, o conflito, a coragem, o vigor, a resistência, a luta contra o pecado, o encarar o demônio, o poder de tê-lo aqui em nós e segurá-lo pela garganta, a presença viva e sinistra do inimigo, e o combate triunfante contra ele, deixando-o sempre ofegante, furioso, dominando-o como prisioneiro e servo. Esta é toda a santidade que podemos esperar. Sim, esta é a única santidade verdadeira. Este triunfo é o único conhecido pelo Espírito Supremo, que é tentado em todos os pontos como nós somos, mas sem pecado. A santidade, você vê, existe em virtude do seu oposto. A santidade é uma consciência do pecado com uma consciência da vitória sobre o pecado. Apena os tentados são santos, e apenas quando vencem a tentação.
Não expus tudo isso apenas por acreditar, embora eu de fato acredite, mas porque o frio diagnóstico hegeliano da vida adora indicar exatamente esses sintomas. “Die Tugend”, ele diz, em uma passagem da sua Lógica — “die Tugend ist der vollendete Kampf.” A santidade, pois, é o cume da luta com o mal. É um paradoxo, tudo isso. E é mais uma vez o mesmo paradoxo da consciência. Você quer a consciência da virtude; você a conquista, não através da inocência, mas pelo seu oposto, a saber, o encontro com o inimigo, enfrentando-o e superando-o. Aqui, a consciência, tal como antes, distingue-se em formas variadas e contrastantes, e vive em suas relações, seus conflitos, contradições, e no triunfo sobre essas coisas. Assim como o guerreiro regozija com o inimigo digno do seu aço, e regozija apenas porque quer superá-lo e matá-lo; assim como a coragem existe pelo triunfo sobre o terror, e como não há coragem num mundo onde não há nada terrível; assim como a força consiste no domínio dos obstáculos; e mesmo como o amor só é provado através do sofrimento, como só é profundo quando junto da tristeza, como torna-se frequentemente o mais tenro porque é ferido pela incompreensão; assim, enfim, é no todo da vida consciente. A consciência é uma união, uma organização, de objetivos conflitantes, propósitos, pensamentos, agitações. E apenas isto, de acordo com Hegel, é a perfeição da consciência. Não há nada de simples nela, nada unmittelbar, nada há até que você conquiste, nada conscientemente conhecido ou possuído até que você o prove através do conflito com seu oposto, até que você desenvolva suas contradições internas e triunfe sobre elas. Esta é a lei fatal da vida. Este é o pulso do mundo espiritual.
Para ver, mais uma vez: nossas ilustrações foram do mais alto para o mais baixo na vida. Em todo lugar, dos jogos mais triviais, onde os jogadores estão sempre arriscando perder para gozar o triunfo, das mais baixas cruezas da existência selvagem, onde guerreiros provam seu heroísmo dilacerando a própria carne, aos mais altos conflitos e triunfos do Espírito, a lei permanece. A espiritualidade vive através da autodiferenciação em forças mutuamente opostas, e através da vitória em e sobre e essas oposições. É esta lei que Hegel singulariza e torna a base do seu sistema. Esta é a Lógica da Paixão que ele tão habilmente diagnostica, e tão incansavelmente, ou mesmo impiedosamente, aplica para toda a vida. Ele dá à sua lei vários termos técnicos. Chama-a lei do Negativität universal da vida autoconsciente; e Negativität significa apenas este princípio de autodiferenciação, com o qual, para possuir qualquer forma de vida, virtude, ou coragem, ou sabedoria, ou autoconsciência, você joga, por assim dizer, o jogo da consciência, põe contra si o seu oponente — o impulso perverso que a sua bondade segura pela garganta, a covardia que a sua coragem conquista, o problema que a sua sabedoria soluciona — e então vive através das vitórias contra este oponente. Tendo encontrado essa lei, Hegel começa, por uma espécie de indução exaustiva, a aplicá-la na explicação de toda relação consciente, e a construir, nos termos desse princípio de autodiferenciação do Espírito, toda a massa das nossas relações racionais com outrem, com o mundo, e com Deus. Seu princípio é, de outra forma, este: que o Eu mais profundo buscado pelos românticos só encontramos através de esforço, conflito, luta espiritual; opondo nossos eus privados ao mundo dos nossos deveres, das nossas relações; desenvolvendo, definindo e dominando estas relações, através da própria tensão, vastidão, necessidade e espiritualidade do conflito até perceber que somos, no divino mundo infinito de guerra e de absoluto, autoconsciências incansáveis. Quanto mais Eu eu sou, mais contradições existem na minha natureza e mais completa é minha conquista sobre essas contradições. O Eu Absoluto que busco para elevar minha alma, e que logo percebo ser um Eu genuíno — sim, o único Eu — existe pela própria força do seu controle sobre todas essas contradições, cuja variedade infinita fornece o centro e conteúdo da sua vida.
Hegel, como vimos, fez do seu Absoluto o Senhor, mais decididamente um homem de guerra. A consciência é paradoxal, incansável, conflitante. Almas fracas se desgastam com a luta, e desistem tentando obter sabedoria, habilidade, virtude, porque essas coisas só se conquistam na presença do inimigo. Mas o Eu Absoluto é, de forma simples, o espírito absolutamente forte que suporta as contradições da vida e conquista a vitória eterna.
Mas ainda é possível dizer: se este é o princípio de Hegel, o que ele faz é simplesmente nos mostrar como o conflito e o domínio ativo continuamente aumentam nossos eus finitos. Ele é capaz de provar que em qualquer lugar do mundo há este Eu Absoluto que engloba e vence todos os conflitos? Hegel nos diz como o Eu individual se relaciona com o Eu mais profundo, como a vida interior encontra a si mesma quando percebe as contradições da vida exterior; mas ele, em algum lugar, demonstra que Deus existe?
Mostrar isto é precisamente seu objeto. Não estou aqui julgando quão bem ele o faz. A pressuposição mais profunda, ele pensa, de toda essa nossa vida consciente e paradoxal é a existência do Eu Absoluto, que existe, com certeza, não separado do mundo, mas em toda esta organizada batalha humana. Só Hegel não se contenta em afirmar esta pressuposição misticamente. Ele quer usar seu segredo, sua fórmula, para a própria essência da consciência, sua lei fundamental da racionalidade, para desvendar problema após problema, até atingir a ideia do Eu Absoluto. De que maneira sistemática ele empreendeu esta tarefa na sua Lógica, na sua Enciclopédia, e em seus vários cursos de palestras, não posso informar. Para mim, entretanto, ele realizou o melhor do seu trabalho no seu livro mais difícil e profundo, a Fenomenologia do Espírito. Ali ele procura mostrar como, se você começar apenas consigo, e perguntar quem você é e o que você sabe, você é carregado, passo a passo, por um processo de auto-ampliação ativa que não pode deixar de reconhecer o próprio Espírito Absoluto como centro e alma da sua vida. Este processo consiste em uma repetição, a cada instante, do paradoxo fundamental da consciência: para compreender o que sou, devo, ao mesmo tempo em que conheço, tornar-me mais do que sou ou do que sei que sou. Devo ampliar a mim mesmo, conceber-me em relacionamentos exteriores, ir além do meu eu privado, pressupor a vida social, entrar em conflito e, vencendo-o, aproximar-me da percepção da minha unidade com o meu Eu mais profundo. Mas a verdadeira compreensão deste processo só é atingida, segundo Hegel, quando você observa que, ao tentar ampliar a si mesmo com o propósito de se autocompreender, você repete idealmente a evolução da civilização humana na sua própria pessoa. Este processo de auto-ampliação é o processo escrito em letras maiores na história da humanidade.
A Fenomenologia é, portanto, uma espécie de filosofia da história contada livremente. Ela começa com o Espírito em um estágio bruto e sensual; acompanha seus paradoxos, sua ampliação social, suas perplexidades, suas rebeliões, seus ceticismo, todas as suas deambulações. Então ele aprende, pela labuta e angústia e coragem, representando todo o trabalho da humanidade, que ele é, no fim das contas, na sua própria essência, o próprio Espírito Absoluto e Divino, que está já presente no estágio selvagem das brutalidades entre mestre e escravo; que torna-se uma vida superior na família; que busca liberdade outra e outra vez na sentimentalidade romântica ou na independência estoica; que aprende, entretanto, sempre de um novo modo, que em tal liberdade não há verdade; que retorna, portanto, de bom grado à servidão da boa cidadania e da moralidade social; e que, finalmente, na consciência religiosa, começa a apreciar a lição aprendida em todo esse processo de auto-ampliação da civilização — a lição, a saber, de que toda consciência é uma manifestação da única lei da vida espiritual, e assim, no fim, do único Espírito eterno. O Absoluto da Fenomenologia de Hegel não é Absoluto de vitrine, por assim dizer — não é Deus que se esconde por trás de nuvens e escuridão, nem um Ser Supremo que resguarda-se cuidadosamente limpo e imperturbável nos recessos de uma infinidade inacessível. Não, o Absoluto de Hegel é, repito, um homem de guerra. A sujeira e o sangue de eras de vida espiritual da humanidade estão sobre ele; ele se nos apresenta perfurado e ferido, mas triunfante — o Deus que conquistou contradições, e que é simplesmente a consciência espiritual total que expressa, engloba, unifica e goza toda a riqueza da lealdade, resistência e paixão humanas.
E com isto eu devo, por ora, fechar. Ficará, talvez, claro para o leitor que há muito nesta análise hegeliana da autoconsciência que parece a mim ter valor permanente e óbvio. Sobre a finalidade da doutrina filosófica como um todo, isto é outro assunto, e este não é o lugar para tratá-lo. No entanto, talvez eu faça bem, para fechar, em sugerir este único pensamento: as pessoas normalmente chamam Hegel de frio criador de sistemas, alguém que reduziu todas as nossas emoções a termos lógicos puramente abstratos e concebeu seu Absoluto apenas como uma encarnação de pensamento morto. Eu, pelo contrário, chamo-o de alguém que conheceu maravilhosamente bem, com toda sua frieza, o segredo da paixão humana; alguém que, portanto, descreveu, como poucos o fizeram, os paradoxos, os problemas e as glórias da vida espiritual. Seu grande erro filosófico e sistemático jaz não na introdução da lógica na paixão, mas na concepção da lógica da paixão como a única lógica; de modo que você em vão se esforça para se satisfazer com o tratamento de Hegel da natureza exterior, da ciência, da matemática, ou de qualquer assunto friamente teórico. Sobre todas estas coisas ele é imensamente sugestivo, mas nunca final. Seu sistema, como sistema, desmoronou. Sua compreensão fundamental da vida permanecerá para sempre.
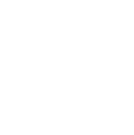










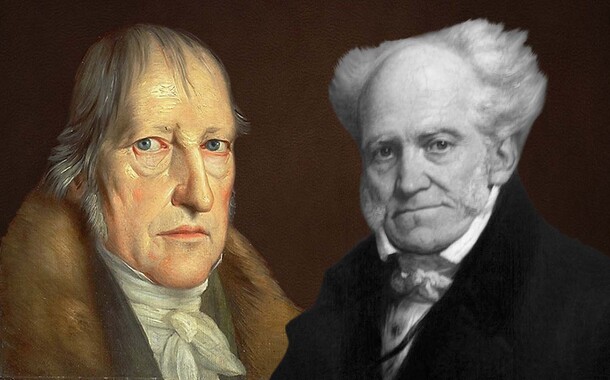
Comentários
Não há comentários nessa publicação.