A lei geral do progresso do pensamento humano é a Lei da Parcimônia — i.e., da melhor adaptação de velhos métodos, princípios, teorias, dogmas, fórmulas e terminologias a novas necessidades e novos fatos, com a menor mudança possível na forma dessas mesmas posses tradicionais. Mesmo as revoluções no pensamento revelam-se muitas vezes reações disfarçadas, esforços conservadores para substituir as tradições dos antigos por alguma lei mais vetusta e autoritária, não para destruir velhas verdades, mas para cumpri-las.
Essa tendência geral nos traz até aqui, ao estudo de Kant, cuja justiça ou utilidade apenas o resultado pode mostrar. E o estudo de Kant implica, de nossa parte, alguma noção da relação que seu pensamento possui com o atual progresso da investigação filosófica. O seguinte estudo pretende estabelecer certas teses a respeito da matéria. O método consistirá na aplicação a certas doutrinas modernas de testes sugeridos pela Kritik de Kant, e no esforço de encontrar por qual modificação, agora com o auxílio de ambas as doutrinas e da própria posição de Kant, podemos esperar dar o próximo passo na filosofia. A ocasião e os nossos limites confinarão este apressado rascunho a um estudo sobre algumas questões puramente teoréticas, e excluirão todas as considerações diretas sobre o aspecto ético da filosofia moderna.
I. A relação de Kant com Tentativas Modernas na Ontologia
Toda a questão da importância da Kritik para o progresso moderno concentra-se na posição da filosofia crítica frente aos numerosos esforços modernos para a formulação de uma Ontologia. Se qualquer um deles triunfa, então a filosofia crítica integra os abarrotados ranques da uberwundene Standpunkte. Se nenhum deles pode ser aprovado, então o progresso consistirá num desenvolvimento direto do pensamento kantiano. Quanto ao restante, começando pela discussão da relação da filosofia crítica com a ontologia, apenas seguiremos a inclinação da maioria dos filósofos, assim como do público inteligente. Para eles, a ontologia é a maior das preocupações filosóficas. Sobre teoria do conhecimento o público geral mal suporta ouvir o que é obscuramente delineado em um livro comum de lógica; mas homens observam com ávido interesse uma especulação ontológica assim que pegam a linha. Há algo dramático, ou, talvez, algo que muitas vezes pode-se chamar romântico, em uma ontologia. Um vasto universo de seres de perfeições variadas, todos buscando o mais alto desenvolvimento, todos imitando mais ou menos divinamente a autossuficiente majestade do Primeiro Motor; ou um mundo de maravilhosas, fabulosas Mônadas, vivendo em uma miraculosa e pré-estabelecida harmonia; ou um magnífico Mundo-Espírito que tudo engloba, cresce do menor para o maior, desdobra suas infinitas possibilidades, abate numa terrível e divina ironia tudo o que ele um dia construiu, para, uma vez mais, erguer novos e grandiosos templos; ou mesmo uma fatigada Vontade universal, que sonha entre as cegas lutas da sua existência sobre o Nirvana e a paz; uma tal doutrina apela ao fino espírito criador de mitos que nunca nos abandona. Se a filosofia pode nos oferecer essas coisas, então a filosofia é um jogo que vale a pena ser jogado. Mas sempre esteve no caminho da filosofia crítica o fato de que o pequeno fragmento de uma ontologia nela retida jamais poderia satisfazer um instinto poético, apenas fornecer um motivo de reclamação àqueles que a julgam inconsistente. Para saciar alguma ânsia, Kant preservou as coisas-em-si. Mas estas coisas-em-si não agradaram a ninguém, apareceram muito cedo apenas para ser, como o velho Xenien mui abertamente indicou, madeira inútil, propícia para ser leiloada, e, no melhor dos casos, disforme até para servir de ornamento. Se, portanto, olhamos para o pensamento pós-crítico moderno no que diz respeito a essa parte da Kritik de Kant, nós o encontraremos num constante esforço de corrigir na obscura ontologia kantiana o sombreado dos seus tons (viz. do Dinge an sich), ou, senão, o próprio erro de assumi-la. Onde estamos hoje nessa controvérsia?
Deixando por um momento a questão crucial sobre a teoria kantiana das coisas em si, questionemos, antes, o que possuímos hoje no caminho de uma ontologia filosófica. Se nosso progresso parece insatisfatório, então é possível que as imprecisas batalhas de Kant com aqueles terríveis Noumena na escuridão transcendental sejam educativas.
Entre nós, como entre os pensadores de todas as eras, hipóteses ontológicas opostas combatem entre si. Mas é uma característica do nosso tempo que a mais importante hipótese ontológica agora favorável tenda a concordar com o monismo. O monismo, de fato, é muitas vezes mencionado como uma invenção do século XIX. Isto está longe de ser verdade, mas nunca houve tantos monistas inteligentes e minuciosos no mundo como hoje. Pensadores representativos discordam sobre o que é ou pode ser conhecido da natureza desse Um; mas ouvimos, em uma quase cansativa repetição, sobre Matéria e Espírito, Força e Inteligência, Movimento e Sensação como aspectos opostos, ou faces, ou manifestações de uma Realidade última, até que pensamos se a clareza do pensamento não corre o risco de perder-se completamente na contemplação de uma forma vazia de palavras. Com sussurros e murmúrios ansiosos sobre o inescrutável mistério da unidade última do Ser, eles esforçam-se satisfeitos com a busca de uma interpretação inteligível do sentido pelo qual todas as coisas podem ser consideradas manifestações de um potencial ou atual Existente. Mas mesmo estes esforços falharam em satisfazer as demandas do criticismo. Onde eles são claramente expostos são também inadequados. Onde eles recorrem a figuras de linguagem e nos contam sobre os dois lados do escudo, ou da convexidade e concavidade da mesma curva, como ilustrações da unidade última da natureza entre as várias manifestações da experiência, estes esforços naufragam e chegam ao fundo da incoerência primitiva, tão cara a toda a metafísica dogmática. A mesma curvatura é, de fato, côncava e convexa; mas matéria e espírito simplesmente não são as duas faces de uma curvatura, e a circunstância relevante sobre a qual se apoia a metáfora nunca será clara para nós até que aprendamos, de certo modo literalmente, longe de fábulas sobre escudos, como, em que sentido, e por que evidência, mente e matéria são substâncias semelhantes. A falha do monismo dogmático, se o devemos levar em conta, não pode, de fato, nos jogar nos braços de um dualismo igualmente dogmático; mas devemos recusar a hipótese monista até que ela se livre de todos os traços de misticismo.
Como fazê-lo? Comecemos com as tentativas de interpretar os resultados da ciência física moderna em um sentido monista, dando às unidades primárias físicas ou químicas uma forma de consciência atual ou potencial. Organismos da mais alta espécie são combinações de átomos. O todo é a soma de suas partes. Por que não seriam as aquisições mentais destes mais altos organismos a soma dos indefinidamente pequenos poderes mentais dos átomos? Um átomo em movimento talvez seja um pensamento, ou, se isto é dizer muito de algo tão simples, um átomo em movimento talvez seja, ou seja dotado de, uma consciência infinitesimal. Bilhões de átomos em interação podem ter como resultante uma assim pequena, mas respeitável, consciência? Grupos suficientemente complexos desses átomos da Matéria-Mental (para usar a engenhosa terminologia do Professor Clifford) podem produzir um homem excepcional. Estremecemos ao pensar no destino ordinário que pode ter a nobre matéria-mental de Shakespeare; mas a teoria pretende expressar um fenômeno natural, não meramente uma criação estética, e não deve tremer diante de tais consequências.
Este é um esboço que sugerirá ao iniciado pensamentos comuns a muitas teorias modernas do ser. Estão estas teorias em um bom caminho para satisfazer as necessidades críticas? O autor pensa que não. O tempo não permite aqui qualquer discussão estendida sobre a matéria, mas lembremo-nos das reflexões que um estudo de Kant quase prontamente sugerirá a qualquer um que se disponha a aceitar por um instante alguma dessas formas modernas de monismo.
Pode-se considerar a consciência um agregado de fatos elementares, tais como sensações ou átomos de dor e prazer? Se pode, que agregado de sensações forma um julgamento, como “este homem é meu pai?”. Evidentemente, aqui está representado um agregado de sensações, mas também algo mais. O que é este mais? Um produto, talvez se diga, formado da associação de inumeráveis experiências passadas. Concedido, por ora; mas a questão não trata da origem da consciência, e sim de sua análise. Este ato de consciência pelo qual uma sensação presente é tomada em nítida relação com experiências reais passadas, como um símbolo, não meramente de sensações atuais agora lembradas, não meramente de sensações futuras ainda não experimentadas, mas de uma realidade absolutamente exterior à consciência individual, este ato de reconhecer algo não diretamente apresentado como real — pode-se considerar esse ato de julgamento um mero agregado de estados mentais? Certamente, no melhor dos casos, apenas no mesmo sentido em que uma palavra é um agregado de letras. Para, e na, simples consciência momentânea, todos esses elementos existem como um agregado, mas um agregado reunido num todo, como a matéria de um único ato. Mas em si mesmos, sem o próprio ato de unidade que os une, esses elementos seriam meramente um agregado, ou, nas pertinentes palavras do Sr. Gurney, “uma corda de areia.” Consciência, então, como uma síntese contínua de inumeráveis elementos na unidade do julgamento ativo, é mais que um agregado, e não pode jamais ser explicada como um agregado de átomos elementares de sensação.
Nem poderíamos dizer que os últimos estados atômicos da consciência estão, digamos, quimicamente unidos num todo que é mais que um agregado. Átomos físicos no espaço, se dotados de suficientemente numerosas afinidades, poderiam se unir no todo que for: um fato mental é um fato mental, e nada além disso. Uma unidade última, independente de consciência, tida por análoga a uma sensação, pode ter com outra unidade semelhante uma de três relações. Poderia coexistir com essa outra unidade, poderia precedê-la ou poderia sucedê-la no tempo. Não há outra relação possível. Afinidade, ou atração, ou aproximação de certa dor ou prazer, de certa sensação de pressão ou de movimento, é um tilintar sem sentido de palavras, a não ser, é claro, que tal expressão seja usada para nomear figurativamente as relações entre as sensações-unidades suportadas na comparativa, contrastante, unificadora e separadora consciência ativa. Assim, portanto, esse monismo atomista não nos aproxima mais que antes da relação entre os dados da consciência e os fatos da natureza física. Para o restante, como pode a ciência mecânica se satisfazer com a consideração de que seus pontos materiais nada são além de fragmentos que existem independentemente fora da mente, sendo intensiva a totalidade do seu ser; como, dessas unidades intensivas, relações espaciais são construídas — essas questões, no momento, devemos ignorar. O monismo atomista, uma síntese, ou melhor, uma confusão de psicologia fisiológica com doutrinas incompatíveis com quaisquer ciências, nunca as respondeu, e sem dúvidas jamais o fará. A memória da Kritik ainda se faz presente para controlar o progresso moderno, e para lembrá-lo, assim esperamos, desses engenhosos, mas muito perigosos, empreendimentos dogmáticos.
Mas não nos precipitemos. Há outras formas de monismo hoje vigentes. O monismo puramente materialista, para o qual os sólidos e extensos átomos do realismo ingênuo são já e em si mesmos potencialmente mentes, o antiquado materialismo da época em que Matéria-Mental e psicologia fisiológica eram semelhantemente derivados, devem, de fato, ser ignorados. Aquela doutrina não precisou de filosofia crítica, não mais do que uma forma pouco desenvolvida, para eliminá-la de uma vez para sempre. O monismo moderno conhece os supostos átomos que são em sua natureza primária físicos, e também as supostas forças psicológicas ou agentes que, vistos de fora, comportam-se muito como átomos extensos. Mas o velho fragmento de matéria, que sendo não mais do que aquilo que qualquer ferreiro conhece como matéria, era ainda, com toda a sua impenetrabilidade e inércia, um fragmento de alma, foi banido do discurso de filósofos sérios. Restam, portanto, os numerosos esforços que veem no mundo a expressão de poderes físicos como tais, não meros átomos de matéria-mental, mas todos organizados, naturalmente relacionados com o que conhecemos através da experiência interna da mente, mas, ainda assim, mais ou menos excelentes, mais sutis ou mais vigorosos, mais sábios ou mais tolos, que a inteligência humana. Essas visões podem ser divididas em duas classes — aquelas que veem na natureza a manifestação de um poder lógico ou inteligente, e aquelas que veem nas manifestações um poder alógico ou cego, embora físico. Cada uma dessas classes pode, mais uma vez, ser subdividida conforme o poder concebido, conforme a consciência ou inconsciência da sua obra. Como esses esforços ontológicos se relacionam com o pensamento crítico? Algum deles escapou dos limites que Kant deu ao pensamento futuro?
O monismo lógico tende necessariamente ao método histórico de explicação do mundo. Disse tende porque o monismo lógico, seguindo Kant de longe, pode parecer com o tempo o que o Dr. Stirling chama, em sua crítica a Kant, de miragem, algo que não pertence à verdade das coisas. Mas, na verdade, como a inteligência humana é uma atividade, uma obra dirigida a uma finalidade, e como o monista lógico pensa no universo em analogia à razão humana, a tendência constante é, para ele, conceber o mundo como um processo em que o mundo-espírito torna atual o que era potencial, e o mundo-história, portanto, como uma Evolução. A ciência moderna, de fato, quando vista especulativamente, embora ela não o confirme, entrega-se facilmente a esses esforços, e sempre poderemos, se quisermos, imaginar a evolução do reino orgânico como, possivelmente, o processo de automanifestação de uma razão eterna. Só que por este caminho nos afastamos muito de uma ontologia satisfatória. Um mundo, a manifestação da razão universal, desenvolvendo-se no tempo, como poderia qualquer mente reflexiva contentar-se com este conjunto de coisas? A razão universal certamente significa algo em seu próprio processo, certamente lhe falta algo quando ela busca por formas mais altas. Ora, em um estágio mais baixo a razão universal não possui o que ela busca, em um estágio mais alto ela alcança o que não tinha. De onde, ou como, ela obtém esta coisa? O que obstruiu a possibilidade de ser imediatamente atual desde o início? Se houve algum obstáculo, foi da mesma natureza da razão universal, ou foi outra? Se outra, então mergulhamos em um dualismo, e os princípios do bem e do mal aparecem mais uma vez. Mas se não houve obstáculo externo, nenhum princípio ilógico e mau na existência, então a razão universal rompeu irracionalmente sem a perfeição possível que ela poderia possuir, até que, após um grande labor, ela atualizou o que nunca pôde faltar-lhe. O Logos infinito, assim, é não mais do que a “criança brincando com bolhas” do velho filósofo. Tudo sobre o processo de evolução torna-se inteligível e cheio de propósito — exceto o fato de que deveria haver, de qualquer maneira, qualquer processo que contivesse tudo, que fosse para e que se originasse na razão universal desde o início. O poder infinito esteve brincando com a perfeição como um gato com um rato, deixando-o escapar por alguns aeons no tempo, podendo capturá-lo mais uma vez mais uma vez em alguma pequena perseguição, envolvendo a história de alguns milhões de mundos de vida. É esta uma concepção valorosa? Pelo contrário, não é uma concepção autocontraditória? Evolução e Razão — são elas compatíveis? Sim, de fato, quando a evolução termina, a bagunça acaba, a batalha é ganha; mas, e enquanto isso —? Em termo, ou a evolução é uma necessidade, um dos doze trabalhos deste Hércules-Absoluto, ou é irracional. No primeiro caso, o Absoluto deve ser concebido em laços. No outro, o Logos deve ser tido por estupidez. Ambas as concepções são absurdos grosseiros. Esta espécie de monismo não satisfaz as demandas críticas.
E então temos a outra objeção, dada por Schopenhauer, e não sei por quantos antes dele, de que não há concepção histórica do mundo como um todo, não há tentativa de ver o Ser como um processo no tempo, como uma perpétua evolução de um menos para um mais excelente, que não seja esmagada debaixo desta pedra: o fato de que após um tempo infinito, o processo infinito ainda está em um estágio muito precoce. Infinitamente progredindo, sempre crescendo, e ainda assim atingindo, após toda essa eternidade de trabalho, apenas a incoerente, angustiada e cega imperfeição que sentimos em nós mesmos, e que vemos em toda pilha de estrume e enfermarias e governos na Terra, em toda massa difusa de matéria nebulosa, em todo trem de fragmentos meteorológicos nos céus — o que é isto senão o progresso sem finalidade, cega labuta? O mundo seria, pode-se pensar, depois de um crescimento infinito, intensivamente infinito em todos os pontos de sua extensão. Nós mortais não conhecemos nenhum ponto do universo onde poderíamos pôr as mãos e dizer: aqui se atingiu o ideal.
Ainda assim, eu deveria estar muito longe de sonhar em aceitar o teorema dogmático oposto, a antítese dessa sublime Antinomia, a saber: “O mundo é o produto de uma força irracional. O Um é cego.” Schopenhauer assumiu a defesa desta antítese, e, com uma lógica ruim, como sabemos, ele de algum modo conseguiu superar aquele arco atrapalhado, a Vontade universal do seu próprio sistema. Esta Vontade, afinal, desejou para si uma boa dose de problema, e realizou seu desejo. Mas Schopenhauer desejava uma afirmação consistente, e com todo o seu aprendizado e sua admirável ingenuidade produziu uma afirmação cujas inconsistências foram expostas com frequência suficiente para dispensarem mais discussões. Schopenhauer é uma espécie de negociante de armas mortíferas. Aproximamo-nos dele para comprar uma pistola ou uma faca quando nossas intenções são assassinas, porque ele muitas vezes oferece os meios mais efetivos para o sucesso argumentativo quando buscamos uma vitória dialética. Ele também é um jardineiro literário, e vende muitas e muito bonitas flores-de-pensamento. Mas uma ontologia — não, para os defensores da hipótese alógica, como uma doutrina dogmática, ainda não foi dado mais do que o caso puramente negativo que firmamos acima. O panlogismo dogmático pode ser atacado, como eu defendo, com muita mostra de sucesso. A doutrina oposta ainda não foi dogmaticamente mantida sem causar confusão ainda pior.
Panlogismo e alogismo são difíceis o suficiente em si mesmos. Mas como não se agrava esta condição quando, como em Philosophy of the Unconscious, de Von Hartmann, cada um deles, ou um híbrido de ambos, é onerado com ainda outra hipótese, a saber: que o Ser Uno é inconsciente, e ainda, em natureza, físico. Baseando-se em certos fatos psicológicos, muito dubiamente interpretados, em uma perversão monstruosa da teoria matemática de probabilidades, em uma engenhosa visão da história da filosofia, em um engenhoso criticismo semelhante ao de Kant, Von Hartmann expôs uma doutrina ontológica com a qual, não posso senão dizer, pensamentos sérios resultam em nada. Este ser inconsciente, existente não por si mesmo, pois ele não conhece nada, nem em função de outra coisa, porque todo o resto é uma parte de si (e ninguém além de Von Hartmann jamais pensou em algo assim), deverá ser o autor e o sustentáculo do universo. Quando consideramos este produto de um cérebro fértil, podemos, penso, dizer apenas que uma filosofia de quadrados redondos seria um problema divertido para uma noite de inverno, mas ela não pode ser tratada com muita seriedade. Esta discussão do Inconsciente não é uma culinária genuinamente filosófica; apenas uma espécie de receita de tortas-de-lama, úteis, sem dúvidas, como um cultivo industrial.
Claro, a crítica anterior é absurdamente inadequada à magnitude dos problemas envolvidos, e serve apenas como o mais simples dos rascunhos, posto dogmaticamente, de objeções críticas para a ontologia. Aparentes irreverências, neste estilo apressado de batalha, devem ser perdoadas. Faço guerra apenas contra a metafísica dogmática como tal. A filosofia crítica não defende opiniões teóricas sagradas, assim como não considera menos que sagrada a fé mais prática e sincera. A questão, aqui, não é no que devemos acreditar, mas o que nosso argumento pode sustentar e qual deve ser nosso método de pesquisa. Absoluto e Infinito, Logos e não-Logos, Matéria-Mental e Espírito — o que são todas essas coisas para a filosofia crítica, além, em primeiro lugar, de meras ideias, conceitos de razão, a serem analisados sem misericórdia ou preocupação com as consequências?
Resta ainda um caminho pelo qual o monismo panlogista espera alcançar uma afirmação satisfatória do problema-do-mundo. Suponha que, de uma só vez, a forma histórica de afirmação seja abandonada. Isto pode ser feito de duas maneiras. Pode-se conceber a razão universal como se ela manifestasse a si mesma no tempo, mas não como uma série de eventos unidos como partes de um único processo. A vida-do-mundo pode ser concebida não como uma única história, mas como uma expressão eternamente repetida da razão Una, um processo que sempre se renova assim que termina, uma série infinita de mundos crescentes e decadentes — mundos que são como as folhas da floresta, que romperam e murcharam por uma eternidade de estações. A racionalidade do processo-do-mundo salva-se, assim, do nosso pensamento pela hipótese de que a razão não é como um viajante atrasado, que vagueia pela noite do tempo, buscando uma autorrealização jamais alcançada, mas, ao contrário, é como o sol que todos os dias nasce enérgico para a sua velha tarefa, regozijando-se como um gigante na plenitude do seu poder conquistado. Qualquer um que tome o mundo atual como uma expressão suficiente da razão infinita, está livre para aceitar esta hipótese; mas ele não deve esperar convencer com sua doutrina aqueles a quem razão significa perfeição, e a quem o mundo não aparecerá assim como no presente de modo mais perfeito que o mundo das experiências do Cândido. Para qualquer um, exceto para o cego otimista, é difícil enxergar este ventoso campo de batalha de ações humanas como o teatro adequado para um drama da desobstruída razão infinita, a ser repetido com incansável tautologia por um futuro inacabável. Assim, portanto, somos jogados aqui e acolá entre as possibilidades sugeridas pelas nossas hipóteses. “O mundo é a manifestação da razão infinita;” ótimo, mas como? “O mundo é um crescimento racional do menos para o mais excelente;" como, então, é isto possível, se a razão infinita governa tudo e deseja o que é mais alto? Não era este, desde o princípio, o objetivo? Então: “O mundo não é apenas um processo único, mas uma eterna repetição do drama da razão infinita, que, como infinita, é sempre ativa e tende sempre ao objetivo.” Mas esta hipótese é gravemente derrubada pela presença da menor imperfeição ou irracionalidade na natureza. A primeira família faminta, ou mariposa queimada, ou calha quebrada, ou esforço inútil, ou pássaro cocho, é uma acusação da razão universal que, sempre em seu objetivo, possui como objetivo esses equívocos irracionais. A outra hipótese possível nos leva, depois de tudo, ao mesmo dilema. O tempo talvez seja apenas uma “miragem”. Para um eterno Um não há, então, processo; apenas fato. Esta noção de um Ser atemporal muito merece, sem dúvidas, estudo. Ela é o Prometeu que rouba o fogo da própria filosofia crítica. Mas, então, o eterno Um estará sempre em seu objetivo, assim como no outro caso. O Um não pode ser infinito e racional e ao mesmo tempo coexistir com o menor traço de erro, absurdidade, equívoco, falsidade. Mais uma vez o monismo falha.
Até agora, a única objeção levantada contra todas essas doutrinas não é a de que elas agradam ou desagradam, mas de que elas envolvem alguma contradição. Mas se elas não envolvem contradições internas, o que, então? Alguma delas poderia se estabelecer? Não, a terrível passagem pelos portões da Dialética Kantiana permaneceria para cada uma, e acima da porta da filosofia crítica está escrito: “Abandonai toda esperança, ó teorias dogmáticas do Ser que aqui entram.” Os grandes problemas da teoria do conhecimento exigiriam solução. Como a mente individual, fechada em um mundo de sensibilidade, julgamentos momentâneos, de memórias e expectativas obscuras, de movimento vagaroso, raciocínios discursivos, poderia conhecer e obter essa Unidade do Ser que tudo abarca, poderia distinguir seu conceito de qualquer outro produto da imaginação, poderia alcançar o âmago das coisas, embora, por natureza, como anotou Lotze, viver seja a maior das ramificações da realidade — este é o grande mistério que a filosofia crítica busca resolver quando nega as premissas sobre as quais se apoiam a crença neste mistério, a saber,: a possibilidade de uma ontologia e a suposta natureza do conhecimento absoluto e ideal. A filosofia crítica não sabe, como diz o Sr. Shadworth Hodgson, nada de ontologia, mas conhece muito de metafísica.
Assim, portanto, o pensamento moderno, como todo o seu trabalho, permanece longe como nunca de uma ontologia. Precisamos, na verdade, apenas passar os olhos pelos esforços feitos nesta mesma época para provar a existência de qualquer espécie de coisas em si mesmas independentes, para ver quão adoecida está a especulação filosófica. Para nos assegurar não d'o que são tais coisas, mas simplesmente que elas são, o pensamento moderno trabalha inutilmente. Admite-se que a consciência acrítica aceita coisas em si mesmas; mas falha em aprender como esta consciência acrítica se justifica. Quem pode se contentar com o realismo transfigurado do Sr. Spencer? Um escritor mais crítico, o Professor Johann Julius Baumann, de Göttingen, em sua Philosophic als Orientirung über die Welt, mostra, de forma elaborada, a importância de se estabelecer a existência de uma realidade externa, e então assume coisas do estilo do mais escancarado e simples realismo do dia-a-dia, simplesmente por conta do “inafastável desejo de explicação” que habita em nós. O idealismo não pode, como ele pensa, explicar, mas apenas descrever, nossas experiências interiores. O realismo pode fazer algo no caminho da explicação. Explicação por meio de mitos é um velho instrumento da humanidade; mas e quanto à explicação por meio de mitos conscientes? O professor Alois Riehl, em seu livro Der Philosophische Kriticismus, defende de todos os ataques o elemento realista em Kant, e parece considerar prova suficiente de uma realidade independente o fato de que não podemos rastrear o todo da consciência até a ação das formas subjetivas dos sentidos e do entendimento. E há numerosos pensadores cujo realismo se funda em uma picuinha verbal sobre aparência implicar algo que aparece (uma picuinha, a propósito, que as próprias palavras de Kant, em algumas passagens, escoraram). Mas, em tudo isso, não há argumento para a existência de coisas em si tão forte quanto a solidão que adentra a mente de tantas pessoas quando as coisas em si são removidas.
Logo, sem uma ontologia, sem provas fundadas em base sólida, mesmo para os primeiros elementos de uma ontologia, a especulação moderna retorna a Kant para ver que esperança há para a possibilidade de um novo edifício construído em bases kantianas. É certo que no próprio Kant havia a velha obscuridade sobre as coisas em si, ainda não removidas. Mas talvez a Kritik tenha mostrado o caminho pelo qual esta, sua própria doença, possa ser remediada.
II. A Necessária Reforma da Filosofia Crítica
Que modificação no elaborado sistema da Kritik é necessária para substituir esses tumultuosos comícios de ontologias rixosas, essas revoltas alimentares dos famintos caçadores-de-ser, uma organização ordenada de doutrinas críticas, relacionadas a um único princípio, e consciente de ambas as suas limitações e de suas conquistas? Nessa questão devemos concentrar o breve restante do nosso esboço.
O pensamento fundamental da Kritik, aquele que aproveitamos do seu estudo, embora seja vaga nossa noção dos detalhes do sistema, é o pensamento de que formas e leis do universo, como conhecidas por nós, são condicionadas pela natureza da nossa própria atividade cognoscitiva. Mas condicionada como? Aqui começa a dificuldade. Dois principais problemas são sugeridos: primeiro, se aceitamos o pensamento crítico fundamental, o que podemos dizer da relação desta atividade cognoscitiva com seu objeto? Como pode, e como o faz, a atividade cognoscitiva formar ou afetar seu objeto? Segundo, o que pode ser dito do objeto sobre o qual a atividade cognoscitiva opera quando observamos este objeto separado da atividade que o afeta? É o objeto algo separado da atividade formadora? Se sim, o que ele é? Estes dois problemas, em si mesmos e como faces opostas de um único problema, não podem ser tratados separadamente, e, mesmo assim, separam-se quando tentamos combiná-los em apenas um. Comecemos com o primeiro.
Dada uma experiência consciente e crua dos sentidos, e dado, também, apenas pelo bem do argumento, que esta experiência ocorra já nas formas subjetivas de espaço e tempo, por que ação esta experiência pode ser transformada em conhecimento de um universo real? Ou, em outras palavras, que elemento ativo, adicionado aos sentidos, faz dela conhecimento? A ciência moderna, seguindo Locke, diz reflexão, a observação e comparação dos dados desta experiência sensorial. Esta reflexão é de certo modo estranha à experiência direta, mas segue da experiência, notando com a devoção de um Boswell as palavras que os sentidos poderiam pronunciar. Não, diz Kant, não pode ser assim; um mero Boswell não pode introduzir nos sentidos mais necessidade do que seus dados já possuem, e eles não possuem nenhum. Um poder ativo, aplicando categorias por meio do Esquema transcendental, fazendo dos sentidos pela primeira vez experiência verdadeira, não apenas absorvendo como uma esponja as águas pré-existentes da experiência, introduz necessidade nesta variedade da sensação. Mas ainda assim perguntamos: como? A dedução transcendental e o sistema de princípios hão de fornecer a resposta. E essa resposta da Kritik de Kant parece ter satisfeito comparativamente poucos pensadores, mesmo aqueles que aceitam o pensamento crítico, em sua afirmação geral, com prontidão. Uma notável classe de objeções talvez encontremos acumulada nos tardios artigos do Dr. Stirling sobre Kant, publicados no Journal of Speculative Philosophy. Tome essas objeções concretamente aplicadas a um único problema, o da necessidade causal.
A asserção da necessidade causal é a asserção de que há na experiência casos de existências das quais certas existências sempre seguem assim que a primeira ocorre. Agora, o que é esta concepção de necessidade causal se não aplicada à experiência? Como confessou o próprio Kant, não é coisa alguma. Mas como ela se aplicaria à experiência? Só se a experiência sensível fornecer por si mesma exemplos de sucessão uniforme. Mas se a experiência sensível fornece estes exemplos, o que a categoria da causalidade, aplicada ao seu esquema, adiciona a elas? A ideia de necessidade? Mas esta ideia é vazia se a sensação não a justifica, e supérflua se a sensação a justifica por conter as desejadas uniformidades. Ou a experiência possui uma sequência regular — e então por que a categoria? — ou não possui sequência regular, e então a categoria é tão inerme quanto uma pata e sua ninhada de patinhos. O esquema transcendental da pata contém a ideia da fatalidade da água para a sua ninhada, e sua experiência sensível contém a percepção da ninhada desenvolvendo-se na água. Ai, pobre categoria! Sensação e entendimento, assim consideradas, são como fragmentos de uma porcelana rara, mas quebrada, que em vão tentamos recompor.
Uma noção mais ou menos clara dessa objeção levou certos eminentes e científicos homens, que (como E. Dühring maliciosamente disse) ein wenig philosopheln, a uma espécie de modificação da visão kantiana, tão plausível que, para mim, confesso, certa vez me pareceu ser o verdadeiro Kant, e para outros menos ignorantes ainda parece ser, sem dúvidas, a última palavra de filosofia sobre o assunto. De acordo com essa visão, a categoria de causalidade é aplicada a um dado sensível pela inteligência ativa como um mero “Postulado de Compreensibilidade”, uma espécie de demanda, ou humilde petição, por assim dizer, à sua majestade a experiência, para que ela, com muito lisonja, se uniformize, já que de outro modo não conseguiríamos fazer nada com ela ou com os seus dados. Uma humilde petição da já mencionada pata para que a água graciosamente afogue seus pintinhos seria um belo exemplo do assim dito “Postulado da Compreensibilidade do Mundo”. Se este postulado significa que nos encantaremos com encontrar no mundo a uniformidade que conseguirmos encontrar, é um desejo inocente. Se significa que sem uniformidades a experiência não pode fornecer leis, é uma tautologia. Se significa que por este postulado tornamos um pouco mais provável (para não dizer necessária) a existência atual de uniformidades na experiência futura, então é um erro óbvio. Há os dados sensíveis, eis a inteligência “postulando” sobre eles. Postula-me nenhum postulado, diz a sensação. Tomo meu próprio caminho ilesa de ti. E a sensação o faz. Nada pode ser mais claro do que isto, que por este caminho a inteligência ativa não afeta de qualquer modo os dados sensíveis, nem cria a menor mostra de uma lei da natureza. Ainda assim, disse Kant, o entendimento é o que dá as leis para a natureza. Como?
O Sr. Shadworth Hodgson, atacando esse grande problema, afirma não um entendimento afetando a experiência sensível, mas uma consciência primária nas formas do espaço e tempo, submetida a uma espécie de retroversão chamada reflexão, e a uma espécie de dissecação chamada processo conceitual, pela qual os dados da contínua e direta consciência são distinguidos, representados, separados, classificados, nomeados, e destarte reunidos em uma complexa estrutura de pensamento. Esta teoria enxerga, no fim das contas, a fundação da necessidade nos simples dados da consciência primária, na qual, se já não houvesse uniformidade, a reflexão ativa não poderia aplicar nenhuma. Entretanto, esforça-se no sentido de considerar o fluxo de consciência, não obstante, algo sujeito à lei de uniformidade de sequência; mas leitores da Philosophy of Reflection talvez julguem o sucesso deste esforço. De minha parte, nenhuma visão do princípio de causalidade que veja nele apenas um exemplo particular do princípio de identidade pode satisfazer minhas necessidades. A asserção “dos eventos da classe A seguem os eventos da classe B” não pode ser reduzida a uma asserção idêntica, a menos que se o faça desde o início. Nem pode um conjunto de dados de uma série de certos estados conscientes dados passivamente ser garantia para essa asserção se ela deve ser universalmente aplicável a todas as séries possíveis de estados conscientes. O Sr. Hodgson é sem dúvidas um dos maiores mestres de metafísica vivos, mas devemos suspeitar de qualquer coisa que pareça renegar a própria fortaleza central da filosofia crítica, a doutrina da espontaneidade da inteligência. “Não podemos pensar em nenhuma união num objeto que não tenhamos nós mesmos unido.” São as palavras douradas de Kant. E nelas nos apoiaremos, ainda que o mecanismo dessa união pareça questionável.
O Sr. Caird e o Professor Watson (cujo novo livro, Kant and his English Critics, esteve comigo desde que comecei a escrever o presente estudo) tentaram superar esta dificuldade indo além da separação kantiana entre sensação e entendimento até que sensação e entendimento parecessem unir-se em um único fato com duplo aspecto. A sensação, eles dizem, não é dada separadamente do pensamento, para ser conquistada de fora pelo pensamento. As categorias não chegam aos dados dos sentidos como a água para a mulher. O fato dado é um complexo de sensação e categoria indissoluvelmente unido. A verdadeira descoberta de Kant é a de que a sensação, separada das formas do pensamento, é impossível. O erro de Kant é falar de sensação e pensamento como se fossem dois fluxos separados. Devemos reformar esta posição, fazendo dos dois uma só carne, e não através do ato de conhecer já incluído neles.
Não tenho dúvidas de que esses pensadores sugeriram de forma apropriada a direção pela qual devemos buscar a solução do problema, mas não estou convencido de que o pensamento pode tão prontamente engolir a sensação do modo como o Professor Caird parece sugerir. O erro de Kant jaz, sem dúvidas, em supor que a sensação é dada inteiramente à parte da configuração ativa da casa, posta em ordem através da categoria. Uma vez dada a sensação, como poderia a categoria rearranjar seus fatos? Ou a sensação conformaria a si mesma à categoria, e deste modo não precisaria de rearranjos, ou ela seria variável em relação à categoria, e seria, assim, inexorável. Mas permanece o fato de que estamos constantemente sujeitos aos dados sensoriais, e de que há na consciência um contraste entre a recepção passiva dos dados dos sentidos (como apitos de trem, ou dores de dentes, ou os sons do realejo) e a espontaneidade dos sentidos. Como explicar este contraste e, mesmo assim, dar à espontaneidade seus direitos? Façamos uma última tentativa.
Qual é o fato último da inteligência ou consciência cognoscente? É esta consciência inteiramente receptora ou inteiramente produtora do seu próprio conteúdo? Se é inteiramente, e não parcialmente, então é ambas ao mesmo tempo? Ambas ao mesmo tempo, respondem muitos pensadores kantianos. Antes, portanto, algo é recebido, e pela palavra recebido não quero implicar uma causa ou fonte de onde se recebe; quero apenas apontar o fato de que em todo instante de cognição há uma sensação da positiva e irresistível presença de algum conteúdo sensorial, uma presença completamente inquestionável, absolutamente certa. Uma dor de dentes, uma cor azul, um som alto, um vago sentimento de desânimo, explica-os como quiseres, na consciência o dado significado por estas palavras são, quando presentes, naquele e em qualquer instante de suas presenças atuais simplesmente fatos irresistíveis. Não há nestes fatos, como fatos, nenhuma espontaneidade consciente do pensamento. Inconsciência non fingo. Em segundo lugar, se os dados sensoriais de qualquer momento possuem a forma do espaço, eles a possuem, também, como um simples fato irresistível, chamados com muita aptidão pelo Dr. William James de um Quale espacial. Teoremas geométricos, e mesmo axiomas geométricos, em geral as relações do que o Sr. Hodgson nomeou Espaço Figurado, não são jamais tais dados últimos, mas o mero fato da grandeza espacial (para seguir o Dr. James mais uma vez) é um possível dado último. Novamente, apesar desses dados de forma espacial, a sucessão em sua forma mais simples, não a relação entre passado, presente e futuro, mas a relação da sequência instantânea, aquela que você pode observar nos tiques de um relógio ou nas batidas do seu coração quando você dirige sua atenção a eles, e percebe, imediatamente, sem o uso consciente da memória, o presente fato de uma sucessão de três ou quatro batidas distintas, isto também é um dado último. Mas agora, em terceiro lugar, além dos dados sensoriais e de suas formas últimas de magnitude extensiva e sucessiva, há presente no momento do conhecimento um julgamento ativo. O que isto faz com os dados sensoriais mais do que ser deles consciente? Respondo o seguinte: faz o ato inteligente, se não mais. Pegue a linha de consciência cognoscente do ponto que você quiser, e você encontrará em cada momento de conhecimento uma referência, mais ou menos definida e significante, do conteúdo aqui dado para alguma coisa além do presente momento. Mas esta alguma-coisa-além de modo algum precisa ser uma causa externa dos presentes dados sensoriais. Pelo contrário, a noção de uma causa externa parece-me um produto muito complexo de pensamento, impossível sem uma anterior, mais simples e última tendência que refere os dados presentes a algo além do presente. O que é esta alguma coisa? A primeira e mais simples de todas as formas que são obtidas pelo julgamento ativo sobre os dados presentes é a forma de referência deste presente a um dado passado. Em todo ato de reflexão, em toda memória definida, no claro reconhecimento consciente, em toda asserção de uma uniformidade na experiência, há presente na consciência, primeiro, a soma dos dados imediatos; segundo, a forma de magnitude extensiva ou sucessiva obtida desses dados presentes; terceiro, a asserção desses dados, ou uma parte deles, representa, simboliza, lembra, assemelha-se ou de algum modo relaciona-se com os dados que eram reais em uma experiência passada não mais existente. Claramente esses dados presentes não são prova da existência de um passado. Claramente, como presentes, eles não são o passado que simbolizam. Claramente, então, o passado não é um dado sensorial. Mas note, o todo da experiência, exceto o fraco e pequeno dado sensorial deste preciso momento, é passado. Logo, experiência é possível como um objeto de conhecimento apenas no e para o ato pelo qual o passado é criado, por assim dizer, a partir do material dos dados presentes. Este ato de afirmar mais do que nossos dados podem conter, projetando a partir do momento presente o esquema de um recheado passado atual, não mais existente ou diretamente cognoscível, mas simplesmente criado pelo julgamento — este ato eu chamo de ato do Reconhecimento do Passado.
Mas o reconhecimento de uma realidade além dos dados presentes não está confinado à asserção de um passado. A referência dos dados presentes a um futuro forma uma segunda classe de atos que podem chamar-se Antecipações. A referência dos dados presentes à realidade externa, o reconhecimento da realidade de outros seres conscientes além de nós mesmos, e o reconhecimento da possibilidade de outras experiências além das nossas próprias, em outras palavras, Reconhecimento de um Universo de Verdade, forma a terceira classe de atos conscientes pelos quais os dados sensoriais transcendem através de uma referência a uma realidade para a qual eles, em si mesmos, não fornecem, nem podem fornecer, a menor evidência. E a partir dessas três classes de formas de atividade cria-se a experiência como um todo. A experiência além deste instante é, para os sentidos, nada, e para o pensamento ativo é tudo. Logo, é verdade tanto que a sensação está além do controle do julgamento, quanto que na atividade julgadora construímos sobre os dados dos sentidos todo o universo da realidade. Logo, a objeção de que a categoria chega à experiência sensível mui tardiamente para fornecê-la qualquer necessidade é contornada de uma vez por todas por uma nova concepção de experiência. Fatos sensoriais não ocorrem em uma determinada ordem, em um tempo presente, para serem refletidos e rearranjados mais tarde por um entendimento oficioso. O verdadeiro fato é que a sensação é momentânea, e não preenche nenhum tipo de passado; assim, o todo do tempo é feito de, e preenchido por, um entendimento que nasce da sensação presente, mas que age do seu modo, realmente construindo corpo, ossos e alma a partir do pequeno grão de areia do minguado momento presente, todo aquele vasto mundo de experiência que Kant supôs servir apenas para dar formas.
Esta visão difere da visão de Kant em alguns aspectos importantes, embora não passe de um simples esforço de reler a doutrina kantiana. Kant disse que, para que a sucessão das impressões sensíveis torne-se um objeto de pensamento, a síntese de apreensão e a síntese de recognição devem absorver os dados sensíveis e, enquanto os unifica, deve fazê-los aparecer na consciência como realidade e como membros da experiência unificada. A visão aqui mantida é a de que os dados passados, ao invés de serem escolhidos, por assim dizer, pela síntese de apreensão e de recognição, e carregados corporalmente à consciência presente, são na verdade projetados para fora dos dados presentes, em um passado concebido, pela atividade momentânea de julgamento. Kant fez a unidade de apercepção, como um nevoeiro, entrar, impregnar, flutuar através da experiência e preenchê-la de forma que as categorias pudessem funcionar e uma experiência desunida pudesse tornar-se una. Nossa visão faria todo o mundo da realidade imediatamente sujeito a uma unidade implicada naquele ato presente pelo qual este mundo é projetado do presente em um concebido, mas não dado, espaço e tempo infinito. Como Kant, deveríamos considerar vazia a atividade não relacionada com os dados sensíveis e cegos os próprios dados sensíveis; mas deveríamos persistir na ideia de que um divórcio absoluto entre sensação e inteligência não é apenas inócuo, mas impossível.
Se essa é a solução sugerida para o problema da relação entre forma e matéria na consciência, a outra questão — aquela sobre a natureza da matéria quando vista separadamente da forma — nos deterá um pouco. Os três impostores da Kritik kantiana (impostores porque eles muito bem enganaram o próprio Kant), cujos nomes são Ding an sich, transcendentaler Gegenstand, e Noumenon, desvanecem em ar rarefeito. A Ding an sich era o que se tornava a sensação quando primeiro se retirava a forma, depois a matéria, e então punha-se uma “selbstverständliche Voraussetzung” no lugar para ocupar a lacuna. O transcendentaler Gegenstand, ou Ding überhaupt, era o que alguém pensaria se não pensasse em nada. O noumenon era o que um ser com uma forma de sentir totalmente diferente da nossa perceberia se ele prestasse atenção ao transcendentaler Gegenstand. Paz às cinzas destes nobres objetos de reverência crítica. Eu defendo que a verdadeira teoria crítica da Realidade deve ser assim resumida:
- Real é o conteúdo da sensação do momento presente.
- Real é a forma deste conteúdo em ordem extensiva ou sucessiva.
- Real é o ato pelo qual reconhecemos um passado que não é dado, nem é agora existente como tendo sido; real é o ato pelo qual reconhecemos a existência de outras consciências além da consciência individual, outra experiência possível no espaço e no tempo além da experiência dada; real é o ato pelo qual antecipamos um futuro ainda não dado.
- Para os objetos destes atos não há mais definitiva evidência teorética possível que o único e simples fato de que através do reconhecimento e da antecipação eles são projetados do momento presente para o passado, para o futuro e para o possível mundo da verdade, concebido como no espaço e no tempo, e como o objeto de uma atual ou possível consciência.
- Nenhuma outra realidade é concebível além daquela em que estão contidos esses dados e esses atos de projeção. Conceber uma realidade é realizar um ato de projeção.
- Além do ato de projeção, nenhuma realidade é atribuível aos objetos que não são dados. Atribuir realidade a eles é reconhecê-los ou antecipá-los — isto é, realizar um ato do que tenho chamado projeção do momento presente.
- Ao mesmo tempo, não pode haver dúvidas sobre a existência dos objetos em questão, pois dúvida é inabilidade de reconhecer ou antecipar. Mas é fato que reconhecemos e antecipamos apenas esses objetos.
- Reais são, portanto, os objetos da atividade inteligente na medida em que são produtos dessa atividade de projeção. É real para nós aquilo cuja existência é, para nós, indubitável.
- O grande objeto da filosofia crítica não é, portanto, trabalhar na vã esperança de se construir uma ontologia, mas devotar-se ao estudo das formas da atividade intelectual, buscando separar nelas o insignificante do significante. O conteúdo concreto do espaço e do tempo é objeto de uma ciência específica.
- O objetivo da filosofia só pode ser alcançado em uma Doutrina Ética. O fato último da consciência que conhece é a construção ativa de um mundo de verdade a partir dos dados dos sentidos, a justificação última desta atividade deve ser encontrada na significância — isto é, no valor moral — da própria atividade, matéria que só pode ser discutida à luz da Ética
Esta é a modificação que o escritor sugere ao tornar o pensamento kantiano mais harmônico com as necessidades presentes do progresso filosófico. Apenas alguns problemas foram considerados, mas estes são fundamentais. Procurei, neste estudo, discutir a relação do pensamento kantiano com aquele outro problema da discussão moderna, que se enraíza na estética transcendental e se ramifica por toda parte (até em jornais espiritualistas): o grande problema da natureza do conhecimento espacial. Aqui um dos nossos maiores passos para o avanço está prestes a ser dado; e Kant é o autor de toda a controvérsia, embora, de fato, ele não seja responsável pela fase espiritualista, da qual Slade e o Professor Zöllner são os únicos procriadores. Procurei, também, traçar a influência Kantiana em algumas das discussões de psicologia moderna, inclusive apontar como, na doutrina psicológica das “energias específicas,” Kant, entendido pela metade e um pouco mal utilizado, muitas vezes agiu como uma força despertadora, uma fonte de sugestão, para ciências que encontram-se muito longe da fronteira do seu próprio trabalho. Mas toda essa busca foi evidentemente tola, já que eu extrapolei, e muito, os devidos limites, tendo parcamente tratado os poucos fragmentos de doutrina que tentei discutir. A única conclusão que este artigo tentou de forma muito apressada manter é a de que a filosofia crítica, como um ataque negativo contra todo dogmatismo ontológico da razão teorética, ainda permanece firme, e que o progresso, portanto, jaz numa reforma da Kritik kantiana por meio de novas e mais críticas definições de experiência e atividade do pensamento.
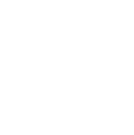











Comentários
Não há comentários nessa publicação.