As Categorias, de Aristóteles, é um trabalho filosófico de importância singular. Ele não apenas apresenta a própria a espinha dorsal da teorização filosófica do autor, como exerceu uma influência sem igual nos sistemas de muitos dos maiores filósofos da tradição ocidental. O conjunto de doutrinas inseridas nas Categorias, que a partir de agora chamarei categorialismo, oferece a estrutura fundamental para os questionamentos de uma imensa variedade de investigações filosóficas realizadas por Aristóteles, que vão desde as discussões sobre tempo e mudança na Física até a ciência do ser enquanto ser na Metafísica, passando, inclusive, pela rejeição da ética platônica na Ética a Nicômaco. Se olharmos para além dessas obras, veremos que o categorialismo chamou a atenção de filósofos bastante variados como Plotino, Porfírio, Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Kant, Hegel, Brentano e Heidegger (para mencionar alguns), que de uma forma outra abraçaram, defenderam, modificaram ou rejeitaram seus conteúdos centrais. Todos, cada um a seu modo, pensaram ser necessário chegar a algum acordo com o sistema de categorias aristotélico.
Claramente, o categorialismo inaugurado por Aristóteles já está enraizado na psique filosófica. Mesmo assim, apesar de sua vasta — e merecida — influência, qualquer tentativa de descrevê-lo encontra uma dificuldade significativa: especialistas discordam sobre muitos de seus aspectos mais importantes e fundamentais. Cada uma das seguintes questões recebeu respostas profundamente distintas de estudiosos e filósofos. O que as categorias classificam? Que teoria de predicação fundamenta o esquema aristotélico? Qual é a relação entre o categorialismo e o hilemorfismo, a outra grande teoria ontológica de Aristóteles? Onde a matéria se encaixa, se ela se encaixa em algum lugar, no esquema categórico? Quando Aristóteles escreveu as Categorias? Aristóteles escreveu as Categorias? As listas encontradas nas Categorias podem ser consideradas listas definitivas, ou ele modifica seus entendimentos em algum outro lugar? A visão de Aristóteles sobre a substância nas Categorias é consistente com sua visão sobre a substância na Metafísica? Aristóteles usou algum método para gerar sua lista de categorias? O categorialismo de Aristóteles é filosoficamente defensável como um todo ou em partes? Se apenas em partes, qual parte do categorialismo é filosoficamente defensável?
Dada a divergência entre as opiniões dos especialistas, mesmo sobre os aspectos mais básicos das Categorias, é inevitável que uma tentativa neutra de apresentar as posições mais básicas da obra seja vista como mal direcionada, talvez bastante mal direcionada, por um ou outro estudioso. Alguém poderia tentar contornar este problema comentando todos as opiniões e debates sobre o assunto; mas um tal projeto falharia em dar vida aos elementos mais marcantes do categorialismo aristotélico. No que segue, portanto, eu tomarei outra via. Primeiro, apresentarei uma interpretação natural, embora bastante simplificada, das principais estruturas do esquema de categorias aristotélico, parando vez ou outra para denotar alguns pontos especialmente controversos. Depois, partirei para a discussão de um debate importante, tanto para os estudiosos como para os filósofos, sobre as categorias: se há ou não algum procedimento sistemático pelo qual Aristóteles gerou sua famosa lista. O debate é interessante em grande parte porque participa de um dos tópicos metafísicos mais fundamentais: qual é o sistema correto de categorias? Não é minha intenção apresentar a interpretação correta das categorias de Aristóteles, mas espero conseguir oferecer uma introdução útil ao conteúdo desta obra tão fascinante.
1. A divisão quádrupla
As Categorias dividem-se em três partes distintas — que vieram a ser conhecidas como Ante-predicamentos (cap. 1-4), Predicamentos (cap. 5-9) e Pós-predicamentos (cap. 10-15). (Os títulos desta seção refletem o tradicional título latino da obra, Predicamenta.) Nas Ante-predicamentos, Aristóteles discute algumas relações semânticas (1a1-16), oferece uma divisão dos seres (τἃ ὄντα) em quatro classes (1a20-1b9) e então apresenta sua lista canônica das dez categorias (1b25-2a4). Nos Predicamentos, Aristóteles discute detalhadamente as categorias de substância (2a12-4b19), quantidade (4b20-6a36), relação (6a37-8b24) e qualidade (8b25-11a39), passando rapidamente pelas outras categorias (11b1-14). Finalmente, nas Pós-predicamentos, ele discute alguns conceitos relativos aos modos de oposição (11b15-14A25), prioridade e simultaneidade (14a26-15a13) e movimento (15a14-15b-17), terminando com uma breve discussão sobre o [sentido do] ter. Um debate considerável discute se Aristóteles pensava que as três partes compunham um único trabalho, e, se ele pensava dessa forma, por que todas elas seriam necessárias. De qualquer maneira, geralmente se aceita que no centro das Categorias existem dois sistemas de classificação: um contido nas Ante-predicamentos e outro nos Predicamentos.
O primeiro sistema de classificação trata dos seres (τὰ ὄντα) (1a20). A divisão começa por dois conceitos: (1) “afirmado-de” e (2) “presente-em”. Todo ser, de acordo com Aristóteles, é ou afirmado de outro ou não é afirmado de outro. Da mesma forma, todo ser está presente em outro ou não está presente em outro. Porque essas noções são técnicas, poder-se-ia esperar que Aristóteles as definiu em algum lugar. Infelizmente, ele não define a relação afirmado-de, e sua definição da relação presente-em ou é circular ou repousa sobre um conceito indefinido de ser-em. Ele diz: “por ‘presente em um sujeito’, quero dizer aquilo que está em alguma coisa, não como parte, mas como o que não pode existir separadamente daquilo em que ele está” (1a24-5). Note que a palavra “em” ocorre nessa definição de “presente-em”. Assim, ou “em” significa o mesmo que “presente-em”, o que levaria a uma definição circular, ou “em” exige ele mesmo uma definição, que Aristóteles não fornece. Logo, o primeiro sistema de classificação criado por Aristóteles repousa em conceitos técnicos cuja caracterização precisa não está estabelecida em nada do que Aristóteles já escreveu.
Apesar da falta de definições úteis, os estudiosos adotaram uma caracterização razoavelmente simples, embora não incontroversa, desses dois conceitos. Focando nas ilustrações de Aristóteles, a maioria dos estudiosos concluiu que os seres afirmados de outros são universais, enquanto os não afirmados de outros são particulares. Seres presentes em outros são acidentais, e os não presentes em outros são não-acidentais. Ainda, seres não-acidentais universais podem ser naturalmente descritos como essenciais, enquanto descreve-se melhor os seres não-acidentais particulares como simplesmente não-acidentais. Se juntarmos estas possibilidades, chegamos ao seguinte sistema quádruplo de classificação: (1) universais acidentais; (2) universais essenciais; (3) particulares acidentais; (4) particulares não-acidentais, ou aquilo que Aristóteles chama substâncias primeiras. Esse sistema nos leva diretamente à própria terminologia fornecida por Aristóteles em 1a20: (1) Afirmado-de e presente-em: universais acidentais; (2) Afirmado-de e não presente-em: universais essenciais; (3) não afirmado-de e presente-em: particulares acidentais; (4) não afirmado de e não presente-em: substâncias primeiras. Uma breve discussão sobre cada uma dessas classes deve ser suficiente para demonstrar suas características gerais.
1.1 Não afirmado-de e Não presente-em
O lugar mais importante nessa classificação, de acordo com Aristóteles, pertence àquelas entidades que não são afirmadas-de nem presentes-em alguma coisa. Tais entidades, diz Aristóteles, são substâncias primeiras (2a11). Embora nas Categorias ele só forneça uma caracterização negativa de substâncias primeiras — elas não são nem afirmadas-de nem presentes-em — os exemplos apresentados nos permitem formar uma concepção mais robusta do que provavelmente são as substâncias primeiras. Seus exemplos favoritos são um cavalo e um homem individuais (1a20, 2a11). Assim, é normal interpretar que ele pensava em substâncias primeiras como particulares concretos que participam de espécies naturais. Um dos tópicos mais controversos entre os estudiosos de Aristóteles é o que discute se, nas Categorias, ele quis restringir a classe das substâncias primeiras apenas a membros de espécies naturais. No mínimo, ele parece pensar que membros de espécies naturais são casos paradigmáticos que podem ser usados como exemplos.
Dada a interpretação acima sobre a relação afirmado-de e presente-em, uma substância primeira é um particular não-acidental. Deve-se admitir que é difícil descobrir exatamente o que é um particular não-acidental. Dando ênfase ao fato de que substâncias primeiras não são tipos de seres que poderiam ser acidentais, Aristóteles parece indicar, primeiro, que elas não são predicados acidentais de nada, e, segundo, que elas não se manifestam temporariamente, se caracterizam acidentalmente, ou se unem de forma artificial, como Sócrates-sentado-em-uma-cadeira. Do mesmo modo, tratando-as como não-afirmadas de alguma coisa, Aristóteles chama atenção ao fato de que substâncias primeiras também não são predicadas de alguma coisa. Em outras palavras, elas são unidades essenciais e impredicáveis. Além destas poucas observações, entretanto, considerando as poucas informações explícitas nos Ante-predicamentos, é difícil dizer exatamente o que é uma substância primeira. Mas isto, alguém pode argumentar, é perfeitamente apropriado para uma entidade metafísica fundamental — nós podemos dizer o que ela não é, e sendo ela uma entidade tão básica, nos falta vocabulário para expressar de modo informativo o que ela é. De fato, Aristóteles pensa que sustâncias primeiras são fundamentais a este nível, já que, para ele, todas as outras entidades tem algum tipo de dependência assimétrica em relação às substâncias primeiras (2a34-2b6).
1.2 Não afirmado-de e Presente-em
Se continuarmos a entender as distinções entre afirmado-de e presente-em assim como eu as caracterizei, também descobriremos que, para Aristóteles, além de particulares substanciais, existem particulares acidentais, ou o que agora podemos chamar de particulares não-substanciais. O exemplo do filósofo para estas entidades é um fragmento individual de conhecimento gramatical (1a25). Talvez um exemplo mais intuitivo seja a brancura individual de um objeto. Se existem particulares não-substanciais, então a brancura de Sócrates é um particular numericamente distinto da brancura de Platão. Os metafísicos contemporâneos costumam chamar tais entidades de “tropos”. Podemos aceitar esta nomenclatura se tomarmos cuidado para não confundir o conteúdo dos escritos aristotélicos com as teorias mais contemporâneas sobre os tropos. Em primeiro lugar, se Aristóteles aceita a existência de particulares não-substanciais, ele certamente não pensa que eles possam existir separadamente de substâncias primeiras — de fato, a interpretação mais comum sobre este ponto é a de que ele pensava serem os particulares não-substanciais entidades dependentes, individualizadas apenas em relação às substâncias primeiras em que elas estão presentes. Logo, a brancura de Sócrates não pode existir sem Sócrates. Além disso, pensar nessas entidades como se elas formassem uma relação primitiva de semelhança entre si vai um pouco longe do pensamento aristotélico. De qualquer maneira, se a presente interpretação está correta, Aristóteles aceitou aquilo que é apropriadamente chamado de “propriedades particularizadas”.
1.3 Afirmado-de e Não presente-em
Agora voltando àqueles seres que não estão presentes-em outros. Aristóteles pensa que, além das substâncias primeiras, que são particulares, existem substâncias secundárias, que são universais (2a11-a18). O exemplo que ele utiliza é “homem” (1a21), que, de acordo com a interpretação presente, é um universal na categoria da substância. Se aceitarmos mais uma vez as distinções que eu apresentei anteriormente, deveremos interpretar as substâncias segundas como sendo características essenciais de substâncias primeiras. E mais: porque as substâncias primeiras parecem ser membros de espécies naturais, é normal interpretar substâncias secundárias como as espécies às quais pertencem as substâncias primeiras. Se é isto o que ocorre, então Aristóteles não apenas pensa que substâncias primeiras são membros de espécies naturais, mas que elas são essencialmente caracterizadas pelas espécies às quais pertencem.
1.4 Afirmado-de e Presente-em
Finalmente, um ser é simultaneamente afirmado-de e presente-em uma substância primeira se ele é um universal acidental. O exemplo de Aristóteles para esta classe de entidades é o conhecimento; porém, mais uma vez, “brancura” é um exemplo mais intuitivo. O universal brancura é afirmado de muitas substâncias primeiras, mas é apenas um acidente em relação a elas.
1.5 Um debate recente
O modo como eu caracterizei os conceitos de afirmado-de e presente-em é, como foi dito, natural e relativamente simples. Além disso, foi de longe a forma ortodoxa de interpretação dos estudiosos medievais de Aristóteles. Eu estaria sendo negligente, entretanto, se não mencionasse o recente debate inaugurado por G.E.L. Owen sobre a distinção entre afirmado-de/presente-em (Owen, 1965a). De acordo com Owen, Aristóteles não aceitou a existência de particulares não-substanciais. Ao invés disso, argumenta Owen, um ser que não é afirmado-de mas está presente-em substâncias primeiras é um universal acidental da menor generalidade possível. Assim, Owen nega que a distinção afirmado-de/não afirmado-de tenha algo a ver com universais e particulares. Não pretendo discutir a interpretação de Owen, mas devo dizer que ela chamou bastante atenção dos estudiosos. O leitor interessado pode encontrar a discussão desses problemas aqui:
Supplement on Nonsubstantial Particulars for Aristotle Metaphysics
2. A divisão decupla
2.1 Discussão geral
Depois de estabelecer seu primeiro sistema de classificação, Aristóteles se volta às categorias e apresenta um segundo sistema, no qual ele se concentra por quase todo o restante da obra. Aristóteles divide o que ele chama ta legomena (τἃ λεγόμενα), isto é, coisas que são ditas, em dez espécies distintas (1b25). Coisas que são ditas, de acordo com o filósofo, são palavras (De Int 16a3), então é natural interpretar seu segundo sistema como uma classificação de palavras. E porque a palavra “categoria”, em inglês, vem da palavra grega para predicado, pode-se pensar no segundo sistema de classificação como sendo os diferentes tipos de predicados linguísticos. Existe, no entanto, um debate considerável sobre esse segundo sistema.
Há três razões para pensar que Aristóteles não está primariamente interessado em palavras, mas nos objetos do mundo a que elas correspondem. Primeiro, a locução ta legomena cria mesmo uma ambiguidade entre “coisas ditas” — que podem ou não ser palavras — e “coisas de que se diz” — que mais naturalmente são reconhecidas como as coisas que as palavras significam. Segundo, os exemplos aristotélicos de coisas que pertencem às categorias são normalmente extra-linguísticos: substâncias, para ele, são um cavalo e um homem individuais. Terceiro, Aristóteles explicitamente aceita uma doutrina segundo a qual palavras significam conceitos convencionados, e conceitos significam objetos do mundo (De Int 16a3). Assim, mesmo se ele estiver de algum modo classificando palavras, devemos pensar nesta classificação com referência aos objetos do mundo às quais as palavras correspondem.
Os estudiosos não satisfeitos com a interpretação linguística do segundo sistema tomaram direções bastante distintas. Alguns pensam que Aristóteles classificou conceitos. No entanto, as objeções levantadas contra a interpretação linguística também podem ser usadas contra a própria interpretação de conceito. Outros estudiosos afirmam que Aristóteles classificou a realidade extra-linguística e extra-conceitual. Finalmente, alguns sintetizaram as interpretações linguísticas e extra-linguísticas afirmando que o filósofo classificou predicados linguísticos enquanto eles se relacionam com o mundo em significados semânticos. Embora eu pense que esta última interpretação seja a que melhor consegue suportar um escrutínio textual, o caráter geral do segundo sistema de classificação será mais facilmente enxergado se focarmos na interpretação extra-linguística. Assim, no que segue, eu simplificarei o assunto explicando o segundo sistema de classificação como se ele fosse direcionado à realidade extra-linguística. Mas não deixarei de chamar atenção para os aspectos que enfrentam dificuldades de interpretação.
O que é, enfim, o segundo sistema de classificação? De forma simples, é uma lista dos gêneros mais altos, que também são conhecidos como categorias. Podemos justificar a existência de gêneros mais altos (ou, talvez, de apenas um gênero suficientemente alto) com o fato de que os objetos comuns da experiência se encaixam em classes de generalidade ascendente. Imagine, por exemplo, um cedro. Em primeiro lugar, um cedro pertence a uma classe de árvores em que só cedros estão incluídos. No entanto, como trata-se também de uma árvore, ele pertence a uma classificação ainda mais ampla que a classe dos cedros. Prosseguindo, um cedro é também um ser vivo, o que o faz pertencer a uma classe de coisas muito mais extensa que a classe das árvores, e assim por diante. Uma vez delineado este padrão, podemos formular as seguintes perguntas: o aumento de generalidade vai até o infinito ou ele cessa em algum gênero, que é o mais geral possível? Ele cessa, em outras palavras, em um gênero supremo?
Pode parecer que a resposta é óbvia: é claro que existe um gênero supremo — o ser. Ora, alguém pode argumentar que tudo existe. Então o gênero que contém tudo e apenas seres deve ser o gênero com a maior extensão possível. Na Metafísica, entretanto, Aristóteles afirma que o ser não é um gênero (998b23, 1059b31). De acordo com ele, todo gênero deve ser diferenciado por alguma diferença que escapa ao próprio gênero. Logo, se o ser fosse um gênero, ele deveria ser diferenciado por uma diferença externa. Em outras palavras, o ser deveria ser diferenciado por algum não-ser, o que, de acordo com Aristóteles, é um absurdo metafísico. Embora ele não faça declaração tão explícita, o argumento aristotélico, se for convincente, pode ser estendido a qualquer proposta de um único gênero supremo. Logo, Aristóteles não pensa que exista um único gênero supremo. Ao invés disso, ele propõe dez: (1) substância; (2) quantidade; (3) qualidade; (4) relação; (5) lugar; (6) tempo; (7) posição; (8) estado ou condição; (9) ação; (10) paixão (1b25-2a4). Eu logo discutirei em detalhes os quatro primeiros. Mas fazê-lo nos levará a questões que, embora sejam interessantes, acabarão por nos distrair da natureza geral do esquema. Por isso, primeiro discutirei algumas das estruturas gerais inerentes ao segundo sistema de classificação, então prosseguirei para uma discussão mais detalhada.
Além de estabelecer os dez gêneros mais altos, Aristóteles também explicou algo das suas estruturas. Cada gênero é decomposto em espécies por um número de diferenciadores. Na verdade, a essência de qualquer espécie, de acordo com Aristóteles, consiste em seu gênero mais a diferença que, junto com o gênero, define a espécie. (É por isso que os gêneros mais altos são, estritamente falando, indefiníveis — porque não existe um gênero superior aos citados, então não poderíamos defini-los em termos de gênero e diferença). Algumas das espécies de certas categorias são também gêneros — eles são, em outras palavras, diferenciados em outras espécies. No entanto, há uma espécie tão baixa que não pode mais ser diferenciada. Abaixo dessas espécies, podemos supor, estão os particulares que pertencem àquelas espécies.
Ora, se aceitarmos aquela classificação de afirmado-de e presente-em que eu forneci, veremos que os dois sistemas de classificação podem, por assim dizer, ser colocados um em cima do outro. A estrutura resultante seria algo parecido com o que segue.

Vale a pena comentar alguns aspectos desse sistema. Primeiro, como eu já havia dito, Aristóteles dá suma importância, nesse esquema, às substâncias primeiras. Ele diz que, se não existissem substâncias primeiras, então nenhuma outra entidade existiria (2b6). Como resultado, o categorialismo de Aristóteles é firmemente anti-platônico. Enquanto para Platão o abstrato é mais real do que os particulares materiais, para Aristóteles os particulares materiais são o alicerce ontológico: substâncias primeiras são mais reais do que qualquer outra coisa; Sócrates e um cavalo são as entidades mais reais na visão de mundo aristotélica. Ademais, Aristóteles diz que, entre as substâncias secundárias, as menos gerais são “anteriores” àquelas com maior grau de generalidade (2b7): o ser-humano, por exemplo, é “anterior em substância” em relação ao o corpo. Agora, se devemos interpretar essa informação em termos de maior ou menor realidade, não podemos responder. De qualquer maneira, a proposta de que a generalidade é diretamente proporcional à substancialidade tem um espírito fortemente anti-platônico.
Antes de entrar em detalhes, ainda vale a pena apontar outro aspecto geral desse esquema. A rejeição do ser como gênero e sua subsequente aceitação de dez diferentes gêneros supremos caminha em direção a uma doutrina central contida na Metafísica de Aristóteles. (Deve-se ter em mente, no entanto, que existe uma discussão genuína sobre até que ponto Aristóteles aceitou a doutrina do ser contida na Metafísica quando escreveu as Categorias). De acordo com o filósofo, algumas palavras não expressam um gênero. É o que ele chama homônimos pros hen, isto é, homônimos relativos a uma coisa (pros hen), às vezes chamados, na literatura sobre o assunto, casos de “significação focal”, “conexão focal” ou “homônimos de dependência central”(1003a35 e ss.).[1] São termos aplicáveis àquelas coisas que têm um certo tipo de relação com outra coisa ou tipo de coisa. Um exemplo desses homônimos, de acordo com Aristóteles, é “saudável”. Uma dieta, ele diz, é saudável porque produz saúde; urina é saudável porque indica saúde; e Sócrates é saudável porque possui saúde. Nesse caso, dieta, urina e Sócrates são todos chamados “saudáveis”, não porque eles se incluem no mesmo gênero — das coisas saudáveis —, mas porque todos estão relacionados com a saúde. De forma semelhante, ainda de acordo com Aristóteles, as coisas do mundo não são seres porque pertencem todas a um único gênero — o ser —, mas porque todas estão relacionadas com o ser primário, que ele chama, nas Categorias, de substância. Isto explica em parte porque na Metafísica é dito que antes do ser deve-se estudar a substância (1004a32, 1028a10-1028b8).
2.2 Discussão em detalhes
Deve-se admitir, penso eu, que falando de forma abstrata, a estrutura dos esquemas classificatórios de Aristóteles tem uma certa beleza. Contudo, o sistema começa a causar estranheza quando a lista dos gêneros supremos passa por um escrutínio. Algumas das categorias são naturais, mas outras não parecem tão naturais assim. Como resultado, filósofos têm proposto mudanças na lista, argumentando que várias categorias deveriam ser eliminadas. Estudiosos já sugeriram que as categorias de Aristóteles não são apenas gêneros supremos, mas representações de relações complexas entre palavras e diferentes aspectos do mundo. Uma breve discussão das quatro primeiras categorias, que são as únicas largamente discutidas por Aristóteles, deve mostrar o que há de interessante na lista, assim como em algumas de suas peculiaridades.
2.2.1 Substância
A categoria mais fundamental é a substância. Já vimos que, de acordo com Aristóteles, as substâncias dividem-se entre substâncias primeiras e substâncias secundárias. Embora o filósofo não discuta os diferentes tipos de substâncias secundárias nas Categorias, ele sugere diversas vezes ao longo de toda a sua obra que estas substâncias devem ser divididas em pelo menos quatro classes (DA 412,a17, 413a21, 414a35, Meta. 1069a30, NE 1098a4):
Substância
- Substância imóvel — Motor(es) Imóvel(is)
- Substâncias Móveis — Corpo
- Substâncias Móveis Eternas — Céus
- Substâncias Móveis Corruptíveis — Corpos Sublunares
- Substâncias inanimadas, Móveis e Corruptíveis — Elementos
- Substâncias animadas, Móveis e Corruptíveis — Viventes
- Incapazes de Percepção — Plantas
- Capazes de Percepção — Animais
- Irracionais — Animais brutos
- Racionais — Humanos
Esta hierarquia de gênero/espécie está longe de ser absoluta — os escritos biológicos de Aristóteles contêm uma taxonomia bastante rica de animais que não se encaixam muito bem nas divisões de animais “racionais” e “irracionais” — mas ela ilustra muito bem a estrutura geral das categorias. As espécies mais baixas nessa taxonomia são superadas por classes de generalidade ascendente até que a maior delas, a substância, seja atingida. Além disso, há algo de intuitivo na idéia de que membros de espécies naturais sejam um tipo de entidade fundamental, e, sendo assim, é natural que exista um sistema de classes de generalidade ascendente que comporta cada uma dessas entidades em seus devidos lugares. Certamente alguém poderia pensar que alguma classe supera a substância. Mas não está claro, se não for o ser, ou alguma classe geral coisas, que classe seria essa. E como eu disse anteriormente, Aristóteles rejeita a idéia de que o ser é um gênero. E seria muito difícil enxergar a relevância de coisa, isto se coisa não for apenas outra palavra para substância.
2.2.2 Quantidade
Na obra, a segunda categoria discutida por Aristóteles é quantidade. Aristóteles faz, na verdade, duas divisões de quantidade em seu capítulo específico. Mas, para bem ilustrar sua natureza geral, discutir apenas primeira divisão deve bastar. De acordo com Aristóteles, quantidade divide-se em quantidades contínuas e discretas; as contínuas dividem-se em linha, superfície, corpo, tempo e lugar; as discretas em número e discurso (4b20-23). Logo, temos a seguinte estrutura gênero/espécie:
Quantidade
- Quantidades contínuas
- linha
- superfície
- corpo
- tempo
- espaço
- Quantidades discretas
- número
- discurso
Assim como substância, quantidade parece ser um candidato razoável de gênero supremo — quantidades existem; quantidades não são substâncias; substâncias não são quantidades; e não está claro qual gênero superaria a quantidade. Assim, parece que fazer da quantidade um gênero supremo foi uma decisão bem fundamentada. Mas o tratamento dado por Aristóteles a esta categoria levanta algumas dificuldades.
Talvez a questão mais interessante esteja ligada ao fato de que algumas espécies de quantidade sejam, na verdade, coisas quantificadas ao invés de quantidades em si. Imagine, por exemplo, corpo. No sentido mais comum, “corpo” significa “corpos”, que não são quantidades, mas coisas com quantidades. O mesmo é válido para linha, superfície, lugar e, talvez, discurso. Claro, existem quantidades naturalmente associadas com algumas dessas espécies. Por exemplo, comprimento, altura e profundidade são associados com linha, corpo e superfície. Mas Aristóteles não lista aqueles itens como espécies de quantidade. Assim, em primeiro lugar, podemos perguntar: Aristóteles quis que a divisão da Quantidade fosse uma divisão de quantidades ou coisas quantificadas?
As dificuldades envolvendo as espécies de quantidade podem ser melhor precisadas considerando que, em vários momentos, Aristóteles parece acreditar em corpo como uma espécie de substância (Top. 130b2, DC 2681-3, DA 434B12, Meta. 1089a31, 1069b38). Como eu havia afirmado acima na estrutura gênero-espécie da categoria da substância, corpo é uma das duas espécies imediatamente incluídas abaixo da substância. Ainda assim, corpo aparece como espécie de Quantidade Contínua. A dificuldade cresce porque, para Aristóteles, nenhuma espécie pode estar ao mesmo tempo na categoria de substância e fora dela — em alguma outra categoria acidental. Ele acredita que espécies de substâncias são afirmadas de substâncias primeiras, enquanto espécies de outras categorias são não afirmadas de substâncias primeiras. Logo, qualquer espécie que pudesse estar nas categorias de substância e em alguma outra categoria acidental seria ao mesmo tempo afirmada-de e não afirmada-de substâncias primeiras. A lista de espécies da Categoria da Quantidade, portanto, não é apenas intrigante, como parece mostrar alguma contradição no pensamento de Aristóteles. Assim, surge uma segunda questão sobre esta categoria: como pode corpo ser ao mesmo tempo espécie da categoria da quantidade e da categoria da substância?
Muitas outras questões sobre a Quantidade poderiam ser formuladas. Por exemplo, a exposição da quantidade contida na Metafísica inclui certas espécies ausentes na exposição das Categorias (Meta. 1020a7-34), o que levanta perguntas sobre até que ponto as doutrinas das Categorias são coerentes com seus outros trabalhos de física e metafísica. Além disso, surgem questões sobre a visão de Aristóteles quanto à natureza de algumas espécies de quantidade, como a espécie dos números. Ele certamente não pensa que os números existam separadamente do mundo material. Mas, então, o que exatamente são os números para ele? Tudo o que a obra nos diz é que o número é uma quantidade discreta. Mas esta resposta não nos ajuda muito a compreender o que Aristóteles tinha em mente. Além disso, por que Aristóteles inclui o discurso como espécie de quantidade? Discurso não parece ser um candidato muito natural para essa categoria. Talvez Aristóteles estivesse pensando nas quantidades de vogais e sílabas das palavras gregas. Mas, se for assim, discurso estaria mais para um som verbal do que para uma afecção. Cada uma dessas questões é interessante e merece atenção. Contudo, eu não pretendo oferecer nenhuma resposta aqui. Apenas espero ter ilustrado quão profundamente intrigante, e ao mesmo tempo difícil, é dominar as Categorias.
2.2.3 Relação
Depois da quantidade, Aristóteles discute a categoria da relação, que interpretativamente e filosoficamente levanta ainda mais questões do que a categoria da quantidade. Um filósofo contemporâneo pode pensar que essa categoria trata daquilo que atualmente chamamos de “relações”.[2] Mas é errado pensar assim. O nome da categoria é ta pros ti (τὰ πρός τι), que significa literalmente “para alguma coisa”. Em outras palavras, Aristóteles não parece estar classificando meras relações, mas coisas que só são “para outras”. Entretanto, parece que, para Aristóteles, as coisas são “para outras” na medida em que um predicado relativo for aplicável. Ele diz: “algo é dito ‘relativo’ se, como tal, é dependente de alguma coisa ou, se não, é de alguma forma referente a alguma outra coisa. Assim, por exemplo, o maior, como tal, é dito de alguma outra coisa, pois dizemos que uma coisa é maior que outra (6a36).
Talvez a leitura mais simples deste ponto seja a seguinte. Aristóteles notou que certos predicados na linguagem são logicamente incompletos — eles não são utilizados em sentenças simples de sujeito/predicado como “a é F”, mas exigem algum tipo de complementação. “Três é maior” é uma frase incompleta — para completá-la, deveríamos informar do que três é maior. Todavia, Aristóteles aceitava a doutrina segundo a qual propriedades sempre inerem um único sujeito. Em outras palavras, embora contemplasse predicados relativos, Aristóteles não aceitava relações como um tipo genuíno de entidade. Assim, a categoria da relação é uma espécie de meio-termo entre o lado linguístico das relações, chamados predicados relativos, e o lado ontológico, as relações em si mesmas.
Para o nosso intuito, não precisamos determinar a melhor maneira de interpretar a teoria aristotélica da relação, mas podemos passar por alguns problemas que a visão do filósofo traz. Primeiro, qualquer pessoa confortável com propriedades relativas irá, sem dúvidas, achar a exposição de Aristóteles um pouco confusa. Embora Aristóteles discuta questões importantes sobre predicados relativos, como, por exemplo, o fato de que predicados relativos envolvem um tipo de referência recíproca (6b28), seu sustentáculo fundamental — de acordo com o qual todas as propriedades do mundo são não-relativas — parecerá fora de curva. Segundo, a categoria da relação levanta problemas interpretativos, em particular o problema sobre o que exatamente seu esquema categórico está classificando. Assim como no caso da quantidade, Aristóteles parece focar nas coisas que contêm relações, não nas relações em si mesmas. Isto é evidente pelo próprio nome da categoria.[3]
Este último fato, de que na discussão sobre a relação Aristóteles parece focado nas coisas relativas e não nas relações em si, dificulta o estabelecimento daquela caracterização simples das categorias que eu discuti anteriormente — de que cada categoria é um tipo distinto de entidade extra-linguística. Se aquela caracterização fosse correta, Aristóteles deveria aceitar algum tipo de entidade correspondente à relação como um gênero supremo. Mas ele não o faz. Logo, é tentador imaginar que ele estava apenas realizando classificações linguísticas. E talvez ele pense que o mundo contenha apenas alguns tipos básicos de entidades, e que diferentes tipos de predicados são aplicáveis ao mundo em virtude de relações semânticas complexas válidas somente àqueles tipos de entidade. Como se vê, muitos comentadores o interpretaram exatamente desta maneira. Mas essas interpretações encaram suas próprias dificuldades. Para apontar apenas uma, podemos perguntar: quais são as entidades básicas do mundo senão aquelas classificadas nas categorias? Talvez exista uma maneira de responder a esta questão com base nos escritos aristotélicos, mas os textos não são muito claros neste ponto. Assim, mais uma vez somos forçados a admitir quão difícil é dominar completamente a obra de Aristóteles.
2.2.4 Qualidade
Depois da relação, Aristóteles discute a categoria da qualidade. Diferentemente de quantidade e relação, qualidade não apresenta nenhuma dificuldade aparente para a interpretação segundo a qual as Categorias classificam tipos básicos de entidades. Aristóteles divide qualidade da seguinte maneira (8b25-10a11):
Qualidade
- Hábitos e Disposições
- Capacidades e Incapacidades Naturais
- Qualidades Afetivas e Afecções
- Forma ou figura
Cada uma dessas espécies lembra um tipo de entidade extra-linguística, e nenhuma delas parece ser espécie de outra categoria. Qualquer dificuldade diante do tratamento aristotélico da qualidade surgirá em razão das divisões feitas, se são ou não apropriadas, e não se categoria se estende para outras interpretações do esquema categórico. Entretanto, como quase tudo o que envolve o esquema de Aristóteles, as divisões da qualidade foram duramente criticadas. J.L. Ackrill, por exemplo, diz o seguinte:
“Ele [Aristóteles] não fornece argumentos especiais para demonstrar que [hábitos e disposições] são qualidades, nem apresenta critérios para decidir se uma determinada qualidade é ou não [hábito ou disposição]. Por que, por exemplo, qualidades afetivas deveriam ser tratadas como integrando uma classe distinta da classe dos [hábitos e disposições]?” (Ackrill, 1963).
Ackrill pensa que a divisão aristotélica da qualidade é, no melhor dos casos, infundada. E parece que ele ainda está sendo educado. Montgomery Furth diz: “Vou deixar de lado questões como… a lógica (se há uma) usada para compreender essa horda monstruosa que é a Qualidade…” (Furth, 1988).
Deve-se admitir: a lista aristotélica das espécies de qualidade é um pouco estranha à primeira vista. Por que, por exemplo, deveríamos imediatamente considerar qualidades qualquer uma das espécies listadas? De fato, quando Aristóteles lista essas espécies, não demonstra seguir seu procedimento usual, fazendo demonstrações das diferenças. Se existem diferenças, deveríamos esperar que hábitos e disposições, por exemplo, pudessem ser classificados como uma e outra qualidade. O mesmo deveria ser verdadeiro para as outras. Mas Aristóteles não apresenta essas diferenças, e é difícil descobrir quais são. Para evidenciar esta dificuldade, pode-se simplesmente perguntar: que diferença específica define a figura?
Para ser justo, a categoria da qualidade tem seus defensores. Na verdade, alguns desses defensores chegaram a fazer um tipo de dedução das espécies de qualidade a partir de vários princípios metafísicos. Tomás de Aquino, por exemplo, diz o seguinte na sua Summa Theologiae:
“O modo de determinação do sujeito como ser acidental será feito ou segundo a natureza do sujeito, ou segundo a ação e a paixão resultantes de seus princípios naturais, que são a matéria e a forma, ou segundo a quantidade. Se tomarmos o modo ou determinação do sujeito segundo a quantidade, obteremos a quarta espécie de qualidade. E porque quantidade, considerada em si mesma, não contém movimento e não implica as noções de bem e mal, também não se aplica à quarta espécie de qualidade a disposição boa ou má, assim como mutabilidade rápida ou lenta.
Mas o modo de determinação do sujeito segundo a ação ou a paixão leva à segunda e terceira espécie de qualidade. E, portanto, em ambas levamos em conta se algo é feito de forma fácil ou difícil, se é transitório ou duradouro. Mas nelas, não consideramos nada relativamente às noções de bem e mal, porque movimentos e paixões não possuem a noção de fim, e bom e mau são ditos em virtude de um fim.
Por outro lado, o modo de determinação do sujeito segundo sua natureza pertence à primeira espécie de qualidade, que é hábito e disposição. Pois diz o Filósofo (Phys. VII, text. 17), tratando de hábitos da alma e do corpo, que são “disposições do que é perfeito para o que é ótimo; e por perfeito quero dizer aquilo que é disposto segundo sua própria natureza”. E como a forma em si mesma e a natureza de alguma coisa é o fim e a causa por que algo é feito (Phys. II, text. 25), na primeira espécie consideramos tanto o bem quanto o mal, e também a mutabilidade, se é fácil ou difícil, considerando o que em certa natureza é o fim da geração e o movimento. (Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II, Q. 49, Art. 2).
Aquino parece ver as espécies da categoria da qualidade como desdobramentos naturais de alguns princípios metafísicos básicos. Claro, a plausibilidade da derivação de Aquino depende da aceitação de Aristóteles dos princípios utilizados. Este também é um tópico bastante rico e importante, mas não a ponto de prolongá-lo por mais tempo.
Pode parecer estranho citar Tomás de Aquino nessa extensão em um artigo voltado às categorias de Aristóteles, mas eu o fiz por duas razões. Primeiro, como ilustraram Ackrill e Furth, o esquema de Aristóteles foi duramente criticado por estudiosos e filósofos como eles. Os comentários de Aquino sobre qualidade, no entanto, mostram que em mãos de um intérprete verdadeiramente talentoso — e certamente não existiu intérprete mais capaz do que Aquino — muitas das críticas são respondidas. Segundo, e mais importante, a atenção que Aquino dá à categoria da qualidade indica um dos fatos mais notáveis das categorias de Aristóteles: sua profunda importância histórica no desenvolvimento da especulação metafísica. Pouco importa se alguns filósofos concordam ou discordam do esquema categórico de Aristóteles. Como instrumento, seu categorialismo tem um papel fundamental: há milênios ele é o ponto de partida de um bom número de investigações metafísicas, comparável com o surgimento do quantificador na metafísica do século XX. Seja ou não o quantificador objeto de grande interesse filosófico, é difícil imaginar sua ausência na metafísica analítica daquele século. Assim, considerando que importa à história da filosofia analisar a influência exercida pelas idéias no caminhar das gerações, vale a pena estudar o esquema categórico de Aristóteles por conta não apenas das suas doutrinas, mas em razão do interesse demonstrado por diversos filósofos e das filosofias que eles produziram usando-o como rascunho.
Depois da qualidade, Aristóteles discute as outras categorias de forma bastante esparsa. Ele faz alguns comentários sobre as categorias da ação e da paixão (11b1) e discute brevemente uma das categorias mais esquisitas, a categoria do estado ou condição.
O essencial da discussão restante, conhecida como Pós-predicamentos, concentra-se em conceitos envolvendo oposição, anterioridade, posterioridade, simultaneidade e mudança. Embora esta parte da obra seja interessante, não está muito claro se ela integra algum dos esquemas classificatórios de Aristóteles. Ademais, há discussões realizadas na Metafísica que tratam dos mesmos assuntos e substituem as discussões realizadas nas Categorias. Portanto, ao invés de discutir os Pós-predicamentos em detalhe, me voltarei agora a um tópico de interesse fundamental, filosofica e interpretativamente falando: como Aristóteles chegou à sua lista de categorias?
3. De onde vieram as Categorias?
O problema envolvendo a origem das categorias surge com a questão mais difícil que há para qualquer posição filosófica: por que ela é verdadeira? Em outras palavras, por que deveríamos pensar que a lista aristotélica dos gêneros supremos contém todos e apenas os mais altos gêneros que existem?
Alguém poderia, é claro, rejeitar a idéia de que existam alguns gêneros metafisicamente privilegiados. Mas aqui é importante distinguir questões internas de externas envolvendo sistemas de categorias. Uma abordagem externa leva inevitavelmente a questões sobre as condições de qualquer sistema de categorias. Nesse sentido, poderíamos perguntar se todos dependem da mente, da língua, de esquemas conceituais etc. Realistas responderão negativamente, e idealistas de uma ou outra estirpe responderão de forma positiva. Ainda poderíamos perguntar sobre nosso acesso epistêmico às categorias supremas, podendo adotar posições que vão desde um ceticismo radical até uma espécie de acessibilidade infalível.
Se, por outro lado, abordamos as categorias de um ponto de vista interno, assumiremos alguma resposta para as questões externas e, depois, com base nessas respostas, questionaremos a veracidade de um sistema. Assim, por exemplo, poderíamos adotar a perspectiva realista e aceitar que de fato existe uma lista privilegiada de gêneros metafísicos supremos, independentes da mente e da linguagem e que se relacionam entre si. E poderíamos, com base nisso, determinar o conteúdo desta lista. Aristóteles certamente pertence a esta tradição especulativa: ele não chega a defender a postura realista, mas a assume verdadeira ao analisar as estruturas metafísicas do mundo. Portanto, é apropriado acompanhar seu realismo para definir quais categorias existem.
Um modo de abordar esta questão é perguntar se Aristóteles desenvolveu sua lista com base em um procedimento principiológico. Porque, se o fez, pode-se presumir que alguém conseguiria avaliar sua lista estudando tal procedimento. Infelizmente, com exceção de algumas anotações sugestivas nos Tópicos, Aristóteles não indica como chegou a gerar o esquema. Sem possuir o procedimento utilizado, as categorias provavelmente não encontram justificação. Claramente, o problema complica-se com o fato de que a lista pode ser justificada sem um procedimento — talvez possamos usar uma combinação de intuição metafísica e argumentação filosófica para nos convencer de que a lista aristotélica é verdadeira. A falta de uma técnica, todavia, faz lista parecer fraca Do ponto de vista histórico, a ausência de justificação foi fonte de muitas críticas famosas. Kant, por exemplo, um pouco antes de formular seu próprio esquema de categorias, escreve:
“Foi uma empreitada digna de um pensador perspicaz como Aristóteles o tentar descobrir estes conceitos fundamentais; mas, como ele não se guiava por um princípio, meramente os escolheu como vinham à cabeça, chegando a dez, que chamou categorias ou predicamentos. Depois, ele pensou ter descoberto mais cinco, aos quais deu o nome de pós-predicamentos. Mas sua tábua permaneceu imperfeita … (Kant, Critique of Pure Reason, Transcendental Doctrine of Elements, Second Part, First Division, Book I, Chapter 1, Section 3, 10).
De acordo com Kant, a lista aristotélica foi o resultado de um assistemático, embora brilhante e um pouco filosófico, ajuntamento de idéias. Logo, não poderia se firmar como um sistema de categorias correto.
Mesmo Kant desconhecendo qualquer método pelo qual Aristóteles possa ter desenvolvido sua lista, muitos estudiosos propuseram soluções, que podem ser classificadas em quatro espécies. Assim as chamo: (1) Abordagem dos questionamentos; (2) Abordagem gramatical; (3) Abordagem modal; (4) Abordagem medieval de derivação.
J.L. Ackrill (1963) é o defensor mais proeminente da abordagem dos questionamentos. Suas evidências se baseiam numa interpretação do que Aristóteles escreveu em Tópicos, I, 9. Ackril afima que há dois modos de gerar as categorias, e cada um envolve uma série de questionamentos. De acordo com o primeiro método, devemos perguntar — o que é isto? — para o maior número de coisas possíveis. Assim, por exemplo, podemos perguntar de Sócrates: o que é Sócrates? E responderíamos: Sócrates é humano. Podemos perguntar a mesma coisa a esta resposta: o que é um humano? E responderíamos: é um animal. Eventualmente, este processo nos levaria a um gênero supremo, que, neste caso, seria a Substância. Se, por outro lado, perguntássemos a mesma coisa, desta vez nos referindo à cor de Sócrates (a brancura), chegaríamos, em algum momento, ao gênero supremo da qualidade. Cumprido até o fim, afirma Ackrill, este procedimento levaria a dez gêneros diferentes e irredutíveis, que correspondem às categorias de Aristóteles. De acordo com o segundo método de questionamento, devemos realizar quantas perguntas diferentes forem possíveis sobre uma substância primeira. Por exemplo, devemos perguntar: quão alto é Sócrates? Onde está Sócrates? O que é Sócrates? Ao que responderíamos: cinco pés; na Ágora; humano. Então perceberíamos que nossas respostam se agrupam em dez gêneros irredutíveis.
De todas as propostas dos estudiosos, a de Ackrill é a que os textos aristotélicos melhor suportam, embora as evidências citadas estejam longe de ser conclusivas. Mas, de um ponto de vista filosófico, o método de questionamento sofre de alguns problemas bastante sérios. Primeiro, não é nem um pouco evidente qual método de fato gera a lista de Aristóteles. Suponha, por exemplo, que eu adote o segundo método e pergunte: Sócrates gosta de Platão? A resposta, deixe-me dizer, é “sim”. Mas onde ela se encaixaria no sistema de categorias? Talvez Ackrill diga que não se devem fazer perguntas respondíveis com “sim” ou “não”. De qualquer maneira, poderíamos perguntar: Sócrates está presente-em ou não presente-em alguma outra coisa? A resposta, obviamente, é não presente-em; mas a que categoria pertence “não presente-em”? É difícil dizer. Problemas similares afetam o primeiro método. Suponha que eu pergunte: o que é a brancura de Sócrates? Eu responderia dizendo “um particular”. Mais uma vez, a que categoria pertence “um particular”? Claro, particulares são parte do sistema quádruplo de classificação proposto por Aristóteles. Mas, aqui, não estamos analisando este esquema. De fato, referenciar aquele esquema neste contexto é simplesmente retomar a questão das relações entre os maiores sistemas de classificação contidos nas Categorias.
Mesmo que Ackrill pudesse encontrar um caminho plausível de questões que levasse às categorias aristotélicas, os métodos que ele propõe parecem insatisfatórios, principalmente porque dependem sobremaneira do modo como estamos inclinados a questionar. Pode ser que as perguntas formuladas levem àquelas categorias, mas o que precisamos mesmo saber é se estamos fazendo as perguntas corretas. A menos que confiemos plenamente nas nossas questões, acreditando que elas estejam atingindo as estruturas metafísicas do mundo, não deveríamos nos impressionar com o fato de que elas levam a um conjunto de categorias qualquer. Porém, saber se nossas questões estão atingindo as estruturas metafísicas do mundo requer a posse de um algo que estabeleça a adequação do esquema categórico. Obviamente, estamos num círculo pequeno demais para prestar auxílio. Talvez toda teoria metafísica seja circular em algum nível; mas círculos deste tamanho costumam ser inaceitáveis para um estudioso da metafísica.
De acordo com a abordagem gramatical, que começa com Trendelenburg (1846) e mais recentemente foi defendida por Micahel Baumer (1993), Aristóteles desenvolveu sua lista com base nas estruturas inerentes da linguagem. Assumindo que a estrutura metafísica do mundo espelha a linguagem, deveríamos, a partir disso, conseguir encontrar as estruturas metafísicas básicas. Esta abordagem é um pouco complicada, mas podemos ilustrá-la com alguns exemplos. A distinção entre substância e as categorias restantes, por exemplo, é construída a partir da estrutura sujeito-predicado da nossa linguagem. Considere as seguintes sentenças: (1) Sócrates é um humano e (2) Sócrates é branco. Primeiro, notamos que cada sentença contém um sujeito: Sócrates. Este sujeito, pode-se pensar, corresponde a alguma entidade de alguma espécie: uma sustância primeira. Além disso, a primeira sentença contém algo que pode ser chamado “predicado individualizado” — é um predicado do tipo “isto é um x”, não “isto é x”. Assim, pode-se pensar que existem predicados atribuídos a substâncias primeiras que, sozinhos, preenchem o necessário para que a substância seja classificada como indivíduo de alguma espécie. Por outro lado, a segunda sentença contém um predicado não individualizado. Deste modo, examinar em detalhes os predicados da linguagem nos fornece boas bases para distinguir entre a categoria da substância e as demais categorias acidentais.
A abordagem gramatical certamente tem suas virtudes. Primeiro, há amplas evidências de que Aristóteles percebia a linguagem e suas estruturas inerentes. Não é tão surpreendente assim o fato de que ele poderia ter levado essa sensibilidade linguística para a lista de categorias. Ademais, algumas das peculiaridades da lista podem ser explicadas através dessa abordagem. Dois dos gêneros supremos são a ação e a paixão. Em Física III, 3, entretanto, Aristóteles afirma que no mundo há apenas movimento, e que só se distingue a ação da paixão pelo modo como se considera o movimento. Então por que deveriam existir duas categorias, ação e paixão, ao invés de apenas uma, movimento? Bom, a abordagem gramatical oferece uma explicação: na linguagem, nós diferenciamos verbos ativos de passivos. Logo, existem duas categorias distintas, não apenas uma.
Apesar dessas virtudes, a abordagem gramatical leva a uma questão muito difícil: por que pensar que as estruturas encontradas na linguagem refletem as estruturas do mundo? Ora, pode muito bem ser um acidente histórico o fato de que a nossa linguagem contém predicados individualizados e não individualizados. Do mesmo modo, pode ser um acidente histórico a existência, na linguagem, de verbos ativos e passivos. É claro que este tipo de objeção, quando forçada até seus limites, leva a uma das mais complicadas questões filosóficas: como podemos ter certeza de que as estruturas das nossas representações estão relacionadas com o que alguns podem chamar de “estruturas metafísicas básicas” e com o que outros podem chamar de “coisas em si mesmas”? Mas ainda não podemos perder a esperança de encontrar uma justificação ao esquema categórico que não esteja completamente fundamentada em alguma correspondência profunda entre estruturas metafísicas e linguísticas.
A abordagem modal, traçada até Bonitz (1853), e que mais recentemente tem sido defendida por Julius Moravscik (1967), evita os defeitos das duas abordagens anteriores. Como afirma Moravscik, as categorias são tipos de entidade às quais qualquer particular sensível deve ser relacionado. Ele diz:
“De acordo com essa interpretação, o princípio constitutivo da lista de categorias é o de que elas constituem aquelas classes de coisas para as quais qualquer particular sensível — substancial ou não — deve estar relacionado. Qualquer particular sensível, substância, evento, som, etc. deve estar relacionado a alguma substância; deve conter alguma qualidade e alguma quantidade; deve ter propriedades relativas, deve estar relacionada a tempos e lugares; e deve estar contido em uma teia de leis e correntes causais, portanto, relacionado às categorias de afecção e ser afetado.”
Em virtude dessa natureza explícita, a Abordagem Modal evita os defeitos das duas abordagens anteriores. Elas se apoiam em alguma conexão entre as estruturas metafísicas e o que parecem ser elementos contingentes, como questionamentos inclinados e estruturas inerentes à linguagem. Mas a Abordagem Modal elimina todas as contingências.
Apesar do caráter explícito, esta abordagem enfrenta uma dificuldade muito parecida com aquela encarada pela Abordagem dos Questionamentos. Pode ser que a abordagem reproduza exatamente a lista aristotélica, como pode não acontecer nada disso. Por exemplo, todo particular material deve estar relacionado a um particular. Mas não há categoria de particulares. Existem, é claro, seres não afirmados-de outros. Mas ser não afirmado-de outro não é uma das categorias de Aristóteles. Além disso, não deveriam todos os particulares materiais ser relacionados com a matéria? Mas matéria não é um gênero supremo. De fato, está longe de ser evidente onde a matéria se encaixa nas categorias. Assim, mesmo que a abordagem modal consiga gerar alguns dos gêneros supremos, não é uma abordagem tão boa assim para gerar toda a lista aristotélica. Este problema poderia ser atenuado se, ao invés de apelar às estruturas modais como tais, a solução apelasse às estruturas modais que Aristóteles possa ter pensado fazer parte do tecido do mundo. Assim, pelo menos, poderíamos explicar por que Aristóteles desenvolveu aquela lista, mesmo que estejamos inclinados a rejeitá-la.
A última abordagem, a Abordagem Medieval de Derivação, caminha, de algum modo, sobre a direção sugerida — mas não acatada — pela Abordagem Modal de Moravscik. Existe uma rica tradição de comentadores, incluindo Radulphus Brito, Alberto, o Grande, Tomás de Aquino, e, mais recentemente, o herdeiro moderno, Franz Brentano, que fornece precisamente o tipo de derivação para o esquema categórico de Aristóteles encontrado por Kant. De acordo com os comentadores desta tradição, os gêneros supremos de Aristóteles são capazes de uma integral, discutível e sistemática derivação a priori. A seguinte citação de Brentano demonstra muito bem a importância filosófica de tais derivações.
“Pelo contrário, me parece indubitável que Aristóteles tenha chegado a uma certa prova a priori, um argumento dedutivo para a completude das distinções das categorias…” (On the Several Senses of Being in Aristotle, Ch. 5, section 12).
O entusiasmo de Brentano sobre a possibilidade de se derivar as categorias aristotélicas talvez não encontre justificativa; mas a idéia de uma prova a priori para a completude das categorias aristotélicas certamente é intrigante.
Talvez o que melhor representa esse tipo de interpretação sejam os comentários de Aquino à Metafísica de Aristóteles. Todas as derivações de Aquino merecem atenção considerável, mas, para os nossos propósitos, basta citar apenas algumas delas. Assim demonstraremos seu caráter geral junto com alguns dos seus aspectos mais interessantes.
“Um predicado o é no segundo modo quando se predica algo que está no sujeito. Se o predicado estiver no sujeito essencialmente e absolutamente, e fluir da matéria, será quantidade, mas se estiver presente essencialmente e absolutamente, mas fluir da forma, será qualidade; e se não estiver absolutamente presente no sujeito, mas se referir a alguma outra coisa, será relação. (Commentaries on Aristotle’s Metaphysics, Book V, Lesson 9, Section 890)
Esta passagem ilustra o teor da abordagem medieval de derivação. Aquino articula o que parecem ser princípios metafísicos relativos ao modo pelo qual, nas suas palavras, “se predica algo que está no sujeito”. Existem duas espécies desses predicados: (1) essencialmente e absolutamente presentes; ou (2) essencialmente e não absolutamente presentes, mas referidos a alguma outra coisa. Esta espécie corresponde à categoria da relação; aquela, às categorias da qualidade e da quantidade. Então, Aquino divide o primeiro modo de presença em termos de forma e matéria. Ele expressamente afirma que a categoria da qualidade flui da forma e que a categoria da quantidade flui da matéria.
Inspecionar todas as derivações de Aquino a fim de determinar sua contingência é um projeto muito grande para se realizar aqui. Eu citei o trecho acima para mostrar como a abordagem medieval de derivação amplia, de maneira interessante, a abordagem modal de Moravscik. A abordagem modal, eu havia dito, ganharia plausibilidade se fosse possível demonstrar como a atitude de Aristóteles em relação às estruturas modais da realidade determinam, de algum modo, a geração de categorias. Aquino tomou esta direção ao invocar uma combinação de princípios semânticos, digamos, a priori, com outros ligados às relações existentes entre forma, qualidade, matéria e quantidade. E Aristóteles está comprometido com a afirmação de que forma e matéria são dois dos aspectos fundamentais do mundo material. De fato, ele argumenta na Física que forma e matéria são necessários para a existência do movimento, que, por sua vez, essencialmente caracteriza os corpos.
Se a abordagem medieval de derivação estiver correta, as categorias de Aristóteles de fato traçam um caminho em que forma, matéria, e talvez movimento, se relacionam com as substâncias e seus predicados. É obviamente uma questão importante saber se essas derivações podem sobreviver a um escrutínio filosófico. Mas não vou desenvolvê-lo aqui, embora eu possa dizer que, talvez, Brentano tenha se entusiasmado demais com as possibilidades de uma prova a priori satisfatória. Ademais, as interpretações medievais carregam o peso de se excederem nas interpretações de Aristóteles. Aristóteles simplesmente não fornece, nos seus escritos sobreviventes, o tipo de conexões conceituais em que se baseiam as derivações medievais. Talvez eles tenham sucumbido à tentação de ver conexões que Aristóteles não aceitava em seu sistema. De uma perspectiva do século XX, as derivações medievais são bastante estranhas. Entre os estudiosos contemporâneos de Aristóteles, é lugar-comum enxergar as Categorias como um trabalho precoce, escrito antes do filósofo ter desenvolvido sua teoria sobre forma e matéria contida nos últimos trabalhos. Se esta abordagem geral está correta, parece implausível afirmar que o esquema categórico pode, de algum modo, ser derivado pelo menos em partes, dos conceitos de forma e matéria.
Esta breve discussão deve deixar claro que providenciar uma derivação completa do esquema aristotélico é uma tarefa muito difícil, talvez impossível. Afinal, pode-se concluir que o esquema de Aristóteles está parcialmente, ou completamente, equivocado. No mínimo, a tarefa é desanimadora. Mas, é óbvio: a dificuldade de estabelecer seu verdadeiro sentido não é peculiaridade deste esquema. Não deveríamos nos surpreender com o fato de que as dificuldades encontradas nas especulações metafísicas do ocidente sejam também encontradas de modo tão duro e provocativo na obra que fundou esta mesma tradição. Na verdade, o nascimento de questões externas sobre as categorias e outras estruturas metafísicas é em parte culpa dessas dificuldades. É compreensível que elas levem a questões sobre a legitimidade de teorias sobre categorias e especulação metafísica em geral. Infelizmente, a história da especulação metafísica demonstra que não é menos difícil responder questões externas sobre a teoria das categorias. Sabendo disso, devemos notar que questões de ambos os tipos devem suas primeiras formulações, de fato, à obra seminal de Aristóteles: as Categorias.
4. Trabalhos recentes
Vale apontar duas tendências nos estudos filosóficos mais recentes. Elas tratam o categorialismo aristotélico de duas maneiras distintas. A primeira trata-o diretamente: é uma investigação em si mesma; ver Shields (ed.) 2012. A segunda é mais indireta, ou por tratar das bases problemáticas da filosofia de Aristóteles em que se baseiam as categorias, ou, de forma mais geral, por avançar a tradição que seu categorialismo inaugurou; ver Haarapanta e Korsinen (eds.) 2012.
Em Shields (ed. 2012), encontramos um argumento que afirma a possibilidade de uma unificação sistemática do hilomorfismo e do categorialismo aristotélicos (Studtmann 2012). O papel da famosa frase “ser enquanto ser” no pensamento de Aristóteles é examinado por inteiro, primeiro em face das críticas das visões de Aristóteles e, segundo, por uma interpretação do famoso slogan, que consegue sobreviver a um escrutínio filosófico (Shields 2012). A ontologia das Categorias é examinada sob as lentes críticas e afiadas de uma variedade de debates contemporâneos (Loux, 2012a).
Haarapanta e Korsiken (eds. 2012) começam com Michael Loux (2012b) e seu exame de uma tese que estruturaria o categorialismo aristotélico, a saber, que o ser é dito de muitas maneiras (pollachôs legomenon). Muitos comentadores dizem que esta tese é profundamente problemática. Loux concorda em parte com este sentimento. Ele afirma que a tese torna a referência unívoca, mas transcategorial, impossível, e isto faz que com que a afirmação “o ser é dito de muitas maneiras” seja impossível também. Entretanto, Loux encontrou uma forma de salvar a tese aristotélica ao negar que a afirmação faça referência ao significado ou sentido universal dos termos. O livro prossegue com questões temporalmente remotas. No entanto, isso só demonstra a influência duradoura do categorialismo. Kukkonen (2012), Knuttilla (2012) e Normore (2012), discutem em ensaios separados a influência das categorias aristotélicas na filosofia medieval. Nas partes finais do livro, os ensaios começam a focar em outros filósofos como Hegel, Pierce, Bolzano e Meinong, que declaram, todos, uma dívida profunda com Aristóteles e sua teoria das categorias.
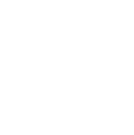










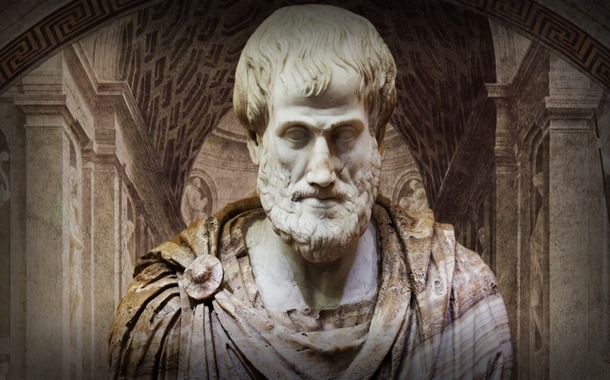
Comentários
Não há comentários nessa publicação.