Miguel Reale costuma ser lembrado por sua teoria tridimensional do direito e, também, por ter coordenado a comissão de juristas responsável pela elaboração do Código Civil de 2002. A compreensão da referida teoria tridimensional parece passar, necessariamente, pelo estudo de duas outras importantes obras de Reale: Fundamentos do Direito e O Direito como Experiência. Nossa coluna no Empório do Direito estreia com a análise da última.
A 2.ª edição de O Direito como Experiência conta com 12 capítulos, chamados de “ensaios”. Pode-se dizer, contudo, que qualquer interessado fará um estudo bem feito da proposta filosófica de Miguel Reale se apreciar os “ensaios” I (o problema da experiência jurídica), II (experiência jurídica pré-categorial e objetivação científica), III (estruturas fundamentais do conhecimento jurídico), IV (filosofia jurídica, teoria geral do direito e dogmática jurídica), V (natureza e objeto da ciência do direito), VI (ciência do direito e dogmática jurídica) e VII (estruturas e modelos da experiência jurídica — o problema das fontes o direito). Os demais capítulos (ensaios) não são menos importantes, mas aparecem como inserções escritas em outras ocasiões: o VIII (gênese e vida dos modelos jurídicos) foi um trabalho publicado por Reale em obra coletiva (Estudios Jurídico-Sociales, Homenaje al Professor Luís Legaz y Lacambra — 1960, v. I, pela Universidade de Santigo de Compostela); o IX (colocação do problema filosófico da interpretação do direito) é uma versão escrita de apresentação feita para o Congresso Nacional de Filosofia do Direito (Roma, novembro de 1965 — Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 1966, fasc. III); o X (problemas de hermenêutica jurídica) foi originalmente publicado na Itália, com o título I presupposti filosofici dela interpretazione (Scritti in memoria di W. Cesarini Sforza, Milão, 1968); o IX (experiência moral e experiência jurídica), uma versão redigida a convite da Comissão que organizou o VII Congresso Interamericano de Filosofia (IV da Sociedade Interamericana de Filosofia), realizado em Quebec entre 18 e 23 de junho de 1967, sobre as relações entre a moral e o direito; e, finalmente, o XII (pena de morte e mistério), um trabalho apresentado por Reale em Colóquio realizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra para a comemoração do primeiro centenário da abolição da pena de morte entre os portugueses.
O Direito como Experiência é uma autêntica demonstração da preocupação de Miguel Reale com a teoria dos valores. É fácil perceber, a um só tempo, a proximidade e distância que tem com a teoria do conhecimento proposta por Immanuel Kant e, mais tarde, pelos filósofos neokantistas. Como se sabe, Reale é um verdadeiro culturalista: é alguém preocupado com as ingerências axiológicas sobre o mundo, as pessoas e o próprio fenômeno jurídico. De um lado, é certo que Reale valeu-se de muitas das premissas kantianas e neokantianas da teoria do conhecimento, já que revela atenção elevada na relação que entre sujeito-objeto. No direito, essa relação é revelada, principalmente, na relação entre o jurista (= sujeito cognoscente) e o ordenamento (= objeto em cognição).
Mas qual seria a divergência entre Miguel Reale e a teoria kantiana dessa relação? O que seria digno de uma categoria a priori. Em (apertadíssima) síntese, pode-se dizer que Immanuel Kant vislumbrava o sujeito cognoscente como — ele próprio — “apriorizável”. Como demonstra Reale, a linha kantiana da teoria do conhecimento reconheceu a “função ativa e constitutiva do espírito, enquanto dotado da faculdade de síntese ordenadora dos dados sensíveis, para a determinação da experiência e a constituição fenomênica dos objetos, pondo em correlação necessária a ‘experiência possível’ com as ‘condições lógicas de possibilidade’ inerentes ao sujeito cognoscente, considerado de maneira universal, isto é, não como individualidade empírica, mas como ‘consciência em geral’”[1].
Miguel Reale, por sua vez, desloca o a priori para o próprio método, e isso resume seu criticismo ontognoseológico: “em contraste com o dualismo abstrato de Kant e o monismo absoluto de Hegel, que supera a aporia só enquanto a destrói, o que se impõe é compreender a relação sujeito-objeto, ou transcendentalidade-experiência, em sua concreta interrelação e funcionalidade; desse modo, nem o a priori se esvazia e se exaure numa Gnoseologia formal; nem se destrói no ato mesmo em que Gnoseologia se converte em Ontologia; mas traduz antes a condição de uma prévia correlação necessariamente subjetivo-objetiva, consoante o que denomino Ontognoseologia” [2].
Fator decisivo para a guinada de teorias da experiência jurídica, segundo Miguel Reale, esteve nos avanços da ciência processual no final do século XIX:
[...] é incontestável que a projeção dada aos estudos de Direito Processual [...] [realçou], a partir das últimas décadas do século passado, uma orientação mais dinâmica no sistema da Jurisprudência, assim como é inegável que a inadequação verificada entre as leis e os fatos sociais suscitou o apelo ao Direito Natural ou a soluções de conteúdo axiológico, mas tudo isto não significa que aquela teoria deva ficar jungida ao quadro histórico-cultural que inicialmente lhe deu causa[3].
Miguel Reale não chega a especificar qual seria a guinada processualística, mas é provável que se refira, e. g., aos trabalhos escritos depois da conhecida polêmica entre Bernhard Windscheid e Theodor Muther. É nela que encontramos o germe do avanço de muitos estudos de direito processual — uns mais publicistas, outros menos —, já que esse embate fomentou “a teoria do direito subjetivo como poder de exigir uma prestação alheia (que tantos embaraços iria criar à teoria do processo)” e “preparou o campo para todo o vigoroso progresso da teoria da ação”[4], com autonomia ao direito processual em relação à concepção civilista[5].
Não sem razão, Galeno Lacerda sustenta que “a análise histórica da teoria da ação é a mesma análise da paulatina independência do direito processual em relação ao direito material”[6]. Em síntese, o resultado final da polêmica foi o surgimento da “noção de que o direito material e o direito de ação seriam distintos, este último devendo ser entendido como um direito à prestação jurisdicional”[7].
Em 1885, Adolf Wach escreveu um trabalho (verdadeiro clássico da teoria do direito processual) sobre ação declaratória. Aí, salienta Celso Agrícola Barbi, Wach demonstrou “ser a ação substancialmente diversa do direito subjetivo que ela visa a proteger, constituindo direito autônomo” e provou “pela existência da ação declaratória negativa, que a ação pode existir independentemente de um direito subjetivo e, no caso daquela ação, ela pressupõe exatamente a inexistência da relação jurídica”. Foi este reconhecimento da existência da ação declaratória negativo o “golpe de morte da doutrina civilística da ação”[8].
De qualquer maneira, Miguel Reale identificou vários setores e conjecturas que chamaram a atenção dos juristas e dos filósofos de seu tempo. “Dois equívocos paralelos” — dizia — foram cometidos até então: “o dos juristas que acabaram por fazer uma identificação entre direito e experiência jurídica, e o dos que pretenderam convertê-la em objeto exclusivo da Sociologia Jurídica”[9]. E tece duas críticas à filosofia jurídica que ignora o campo da realidade objetiva do direito: “o filósofo não pode ser infiel à natureza de sua específica investigação, mas isto não quer dizer que possa fazer abstração das contribuições científico-positivas, a não ser que de antemão as considere fruto de ‘pseudo ciência’, ou receie ver por elas contaminada a forma pura e absoluta de seus pressupostos transcendentais, posto, desse modo, um antagonismo absurdo entre Filosofia e Ciência”[10]. “Faltou” — prossegue — “a alguns autores a preocupação de delimitar os assuntos versados com os necessários apuro e rigor de linguagem, a começar pela discriminação das diversas formas de experiência jurídica, em função das distintas modalidades do saber jurídico, sem ter havido sequer o cuidado preliminar de situar-se o Direito (= Ciência normativa do direito) ‘perante’ ou ‘na’ experiência jurídica”[11].
Neste sentido, três perspectivas filosóficas seriam os horizontes possíveis da experiência jurídica. O conceito de “experiência”, em síntese, pode alcançar “três orientações fundamentais possíveis”: 1.ª) a posição imanente; 2.ª) a posição transcendente; e 3.ª) a posição transcendental.
Posição imanente: assume a posição imanente, diz Reale, o jurista que afirma que jamais poderá ir além do plano dos eventos históricos, considerando os problemas jurídicos permanentemente inseridos nele e só explicáveis segundo os valores inerentes às relações que o constituem. “Tudo o que se elabora no mundo jurídico, quer pelo legislador, quer pelos tribunais ou através dos usos e costumes, resulta, segundo tais doutrinas, das relações sociais mesmas, sendo, o mais das vezes, as regras de direito explicadas indutivamente, segundo nexos de causalidade ou funcionalidade”[12].
O viés do imanente reduz, assim, o valor ao fato, e o dever ser ao ser. O ôntico é “visto como o valor [e] não representa senão o resultado de um fenômeno psicológico”; o deônticos “equivale a uma diretriz possível do comportamento, como que uma resultante enucleada do seio dos próprios fatos”[13]. A posição imanente da experiência jurídica tem, pois, uma nota empírica: ela equivale “ao reconhecimento de que o direito só pode ser ‘experimentado’ em função dos resultados atingidos”.
Posição transcendente: são transcendentes, no plano da “experiência jurídica”, os juristas para os quais, “além dos fatos, num plano diverso do empírico e temporal, é necessário admitir alguns paradigmas ideais, certas exigências objetivas e imutáveis, à guisa das ideias de Platão; são modelos estáticos ou eternos, que não participam de nossas contingências históricos-sociais”[14]. Toda produção acadêmica, doutrinária e legislativa, assim, “não representaria senão um esforço constante de adequação a modelos transcendentes de Justiça”[15].
O direito positivo desempenha, na posição transcendente, a função de “representar, para ser moralmente válido, uma adequação necessária aos ‘institutos ideais do Direito’, ou, como se prefere dizer na linha do pensamento tomista, uma adequação aos princípios supremos da vida prática, válidos em si mesmos, das normas jurídicas positivas e de sua execução, segundo exigências de ordem lógica e de prudência política”[16].
Posição transcendental: nessa terceira posição, “o direito não resulta do processo fático, nem lhe é imanente, mas, por outro lado, também é inconcebível como valor em si, desvinculado do processo histórico ou sem referibilidade à experiência, havendo em todo fenômeno jurídico dois aspectos a serem analisados, um quanto à sua gênese, outro quanto as suas condições de possibilidade e de validade”. Há, pois, “uma teoria de cunho transcendental, na acepção que este termo passou a ter a partir de Kant”[17]. Aparando algumas arestas (divergências internas de adeptos da posição transcendental), Miguel Reale aponta o seguinte:
[...] na posição transcendental, para parafrasearmos expressões de Kant logo na página inicial da Crítica da Razão Pura, “no tempo, todo conhecimento do Direito começa com a experiência, mas nem por isso deriva da experiência”. Com tais palavras, torna-se clara a distinção entre o ponto de vista genético e o lógico e o epistemológico, na compreensão da experiência jurídica, não se devendo confundir o início (Anfang) com a origem (Ursprung) do conhecimento.
O direito é uma realidade histórico-cultural que se constitui e se desenvolve em função de exigências inilimitáveis da vida humana, cabendo indagar se ele é, como tal, suscetível de estudo empírico e de “experiência” e quais são as condições não apenas lógicas, mas éticas e históricas que tornam essa experiência possível. Este é, rigorosamente falando, o problema da fundação filosófica do direito como experiência, que é correlato ao da condicionalidade do direito como objeto de ciência[18].
A posição adotada por Miguel Reale é a transcendental, tanto que diz: “no meu modo de ver, foi só com o já apontado alargamento do conceito de transcendental que se tornou possível a teoria integral da experiência jurídica, correlacionando-a, complementarmente, com a ‘realidade jurídica’, mas sem reduzir um conceito ao outro”[19].
Já iniciamos a análise da obra de Miguel Reale destacando que, a um só tempo, ele se aproxima e se distancia de Immanuel Kant: há aproximação quando se reconhece que está em Kant as “contribuições fundamentais” de se reconhecer uma “função ativa e constitutiva do espírito [...] para a determinação da experiência e a constituição fenomênica dos objetos”; há distanciamento quando se critica o transcendentalismo kantiano por suas “lacunas e distorções que comprometiam os seus propósitos de fundação geral das ciências”[20]. Reale traz severas críticas ao “abismo” que o a priori kantiano inseriu “entre natureza e espírito, lei natural e liberdade, ser e dever ser”, numa “separação radical e inadmissível entre a experiência natural e a experiência ética e, por via de consequência, entre ciências naturais e ciências humanas”, num “artificialismo resultante da pretensão de prefigurar a priori uma tábua completa e exaustiva das formas e categorias, às quais deveriam se adequar todos os tipos de realidade possíveis”[21].
Qual foi papel dos neokantistas? As escolas neokantistas retomaram “o problema dos fundamentos gnoseológicos das ciências culturais ou históricas”[22]. A rigor, há duas principais escolas do neokantismo: a de Baden e a de Marburgo:

Imagem: Arte/Folha Online (retirei do link https://goo.gl/NE1qq9)
(flechas e notas de nossa autoria)
O neokantismo dos marburguianos englobava nomes como Hermann Cohen, Ernst Cassirer, Paul Natorp e, mais decisivamente para o direito, Rudolf Stammler, “cuja obra teve por principal escopo determinar as formas lógicas condicionantes da experiência jurídica, ou a ‘pura legalidade’ do direito”[23]. Sobre Stammler, Miguel Reale traz as seguintes considerações:
[...] toda a magnífica obra de Stammler poderia ser vista com um poderoso esforço no sentido de preencher a lacuna legada pelo pensamento kantiano também no campo do Direito, por falta de determinação das condições a priori daquelas proposições práticas cujo caráter nem opcional nem puramente técnico o próprio Kant reconhecera, permanecendo, no entanto, o assunto em suspenso, entre as tenazes de sua bifurcada compreensão da natureza e do espírito. Foi mérito inegável de Stlammler ter posto o problema da experiência jurídica em termos de condicionalidade transcendental, elevando-se ao conceito de direito como “norma de cultura”, mas toda a sua doutrina padece ainda de uma concepção lógico-formal que, no tocante ao mundo do direito, não vai além de uma abstrata relação entre forma e conteúdo, de uma adequação extrínseca entre a logicidade de um querer autárquico e entrelaçante e a economicidade do que é juridicamente querido[24].
Ainda que tenha avançado em favor de uma teoria dos valores, o neokantismo de Marburgo ainda crava um “universal lógico do direito”, numa visão estática e resultante “de um processo de abstração, diferenciação e generalização, como simples juízo lógico, esvaziado daquela função constitutiva que as categorias desempenham em relação a experiência, e que, como bem pondera Renato Treves, marca o valor do transcendentalismo kantiano”[25]. Esse viés neokantista de Rudolf Stammler teria influenciado Hans Kelsen[26], tanto que Reale lhe imputa um “esvaziamento do transcendental” acentuado em sua doutrina, “com a redução de norma de direito a um puro juízo lógico de caráter hipotético”[27].
A escolha de Baden teria dado “um passo essencial à frente”, tendo nomes como Wilhelm Windelband, Heinrich John Rickert e, no direito, Emil Lask e Gustav Radbruch. Os dois últimos — E. Lask & G. Radbruch — “intercalaram entre o mundo da liberdade e o da natureza o mundo da cultura, isto é, das realidades históricas constituídas pelo homem através do tempo, e compreensíveis, não segundo os juízos de ser ou juízos de valor, mas segundo ‘juízos referidos a valores’”[28].
Mesmo assim, os teóricos de Baden não convenceram Reale:
No fundo, era sempre a concepção do transcendental em termos puramente formais que impedia uma visão mais concreta da experiência jurídica, impossibilitando os neokantianos — por mais que proclamassem as excelências da Filosofia dos valores —, de compreender que o elemento valor desempenha uma tríplice função, lógica, ôntica e deontológica, na constituição e desenvolvimento do mundo da cultura: os culturalistas neokantianos contentaram-se, ao contrário, em concebê-lo como um simples paradigma, posto ab extra do processo histórico, desempenhando mera função heurística ou de tábua de referência gnoseológica[29].
A influência da fenomenologia em Miguel Reale: é nítida a influência de pensadores como Edmund Gustav Albrecht Husserl, Max Ferdinand Scheler, Nicolai Hartmann e Martin Heidegger em Miguel Reale, pois tais nomes ampliaram “os horizontes da problemática existencial, abrangendo tanto as ciências da natureza como as do espírito, como decorrência de um conceito de ‘transcendental’ capaz de condicionar e compreender todas as formas de realidade em toda a sua concreção, num significativo retorno às coisas mesmas”[30]. Sobre o papel de Husserl em suas teses, Reale aponta:
Segundo Husserl, o novo conceito de transcendental, superada a posição kantiana, não traduz a mera busca de formas lógicas puras, mas sim “um retorno às fontes últimas de todas as formações cognoscitivas, da reflexão por parte do sujeito cognoscente sobre si mesmo e sobre toda a sua vida cognoscitiva, na qual se definem, de conformidade com um fim, todas as formações científicas que valem para ele; na qual elas atuam com resultados e são e se tornam constantemente disponíveis”. Não se trata, como se vê, de admitir-se um a priori do eu puro, como subjetividade ordenadora do real ou mero “sujeito lógico”, mas de remontar à fonte que se intitula “eu mesmo, com toda a minha vida cognoscitiva real e possível, e, enfim, com minha vida real e concreta”, ao ego e ao mundo de que é ele consciente[31].
É na teoria husserliana de Lebenswelt que Miguel Reale procura captar a concepção fundamental daquilo que ele chama de eu concreto. A socialidade abrange “atos comunicativos de compreensão”, e não pode ser explicada segundo leis naturais: em Husserl, “não é a causalidade, mas a motivação a lei fundamental do mundo espiritual”[32]. Isso explica, e. g., a doutrina finalista do delito proposta por Hans Welzel: Reale crê que atuação humana pressupõe consciência de fins, plausibilidade de opção e aprimoramento de atitudes[33]. Essa dogmática finalística oculta em seu seio uma verdadeira teoria axiológica[34] — “se a ação humana se subordina a um fim ou a um alvo, há direção ou pauta assinalando a via ou a linha de desenvolvimento do ato. A expressão dessa pauta de comportamento é o que nós chamamos de norma ou de regra. Não existe possibilidade de ‘comportamento social’ sem norma ou pauta que não lhe corresponda”[35]. Isso mostra como é difícil, na perspectiva fenomenológica, defender a atribuição de personalidade jurídica para animais: só o ser humano age finalisticamente dirigido a algo; só o ser humano é voltado aos fins. O direito só encontra razão de ser enquanto estrutura de significação humana; só a estrutura inteligível humana pode captar comandos do dever ser. Não faria sentido, e. g., impor pena ao animal que avança sobre o homem para matá-lo: o animal não age com finalidades fenomênico-humanas. Age como animal: não pode empreender sentidos, valores e bens albergados pelo ordenamento jurídico. Não há na cabra, no leão ou no cachorro o dolo, nem a culpa: animais não se comportam com a voluntariedade humana[36]. Ora, “o estudo fenomenológico da ação ou da conduta”, diz Reale, “demonstra que qualquer que seja o grau ou a forma de sua explicitação, implica sempre uma direção intencional para algo, segundo certo fim e certa ordem”[37].
O a priori de Miguel Reale: é de se asseverar que Reale não nega categorias “apriorizáveis” ou “transcendentalizáveis”. Como já se disse no começo da resenha, o filósofo paulista “desloca” o a priori para o método empregado pelo sujeito. Um adepto de Platão dirá que transcendental é o objeto; um kantiano dirá que o transcendental é o sujeito. Reale situa o transcendental ao que ele chama de plenitude da experiência:
À luz dos renovados conceitos de transcendental e de a priori [...], parece-me que o problema da experiência ética em geral, e da experiência jurídica, em particular, deve ser situado sobre novas bases, para além de sua mera referência à subjetividade pura, entendida como simples tábua de formas e categorias lógicas, visto como implica também condições inelimináveis de ordem axiológica e histórica, como tais assumidas e reconhecidas pelo eu que sente, pensa e quer. O transcendental, em última análise, abre-se à plenitude da experiência, tanto natural como ética, podendo-se dizer que a categoria lógica de possibilidade passa a ser compreendida concretamente em função das categorias de finalidade e de temporalidade, nos planos da práxis e da história.
Não se cuida, porém, de renovar a tentativa de um empirismo integral, pois este, sob a aparência de uma compreensão unitária e total, não colhe da realidade senão o que ela se mostra como enlaces causais, sem captar o sentido que se alberga nos fatos, e sem referir os fatos à fonte originária doadora de sentido a tudo que existe, na concreta correlação entre o eu e o mundo, desde a espontaneidade natural da Lebenswelt ou da vida comum, até às manifestações mais apuradas de objetivação espiritual, no plano da Arte, da Ciência ou da Filosofia[38].
Daí Miguel Reale falar, expressamente, num novo conceito de transcendental, com uma noção diferente de a priori: este “deixa de ser puramente formal, para passar a ser também a priori material”[39]. Seu criticismo ontognoseológico “pretende situar-se numa linha superadora da antítese Kant-Hegel, no tocante à relação Transcendentalidade-Experiência, e, nesse sentido, constitui um prolongamento dos estudos fenomenológicos, pela verificação de que, se é necessário superar o conceito formal do ‘eu penso’ kantiano, substituindo-o — como o faz Heidegger, que se vale das teses de Husserl, — pela concreção do ‘eu penso algo no mundo’”, a implicar numa historicidade do eu penso.
Dessa forma, prossegue Miguel Reale, “nem o a priori se esvazia e se exaure numa Gnoseologia formal; nem se destrói no ato mesmo em que Gnoseologia se converte em Ontologia; mas traduz antes a condição de uma prévia correção necessariamente subjetivo-objetiva, consoante o que denomino Ontognoseologia”[40]. O a priori realeano, destarte, está no reconhecer de que sobre o sujeito cognoscente há uma capacidade perceptiva, variável no processo histórico-cultural. O que é transcendental, segundo Reale, não é o próprio sujeito (o eu formal de Kant); mas a percepção historicamente variável do sujeito (o eu mundo da Lebenswelt). Veja-se:
Nada apreendemos nos domínios da arte, da religião, da economia ou do direito, de todas as criações do homem, em suma, nem nos é possível interpretar a nossa faina histórica, no empenho de ajustar cada vez mais a natureza a nossos fins racionais de emancipação ética, sem indagarmos desses mesmos fins, da “intencionalidade” do ato criador objetivada nas obras e nos bens constituídos. Os bens culturais existem na medida e enquanto possuem um sentido, ou, por outras palavras são enquanto devem significar algo para alguém, como meio de comunicação[41].
Em outra passagem já mais avançada da obra, Reale acentua que “o essencial é reconhecer que todas as expressões da cultura, como sínteses ontognoseológicas, isto é, subjetivo-objetivas e teórico-práticas —, se atualizam no concreto da experiência histórica, segundo uma dialética de complementaridade; e obedecem a um projeto comum da espécie humana, como projeção do valor universal da pessoa, que é o valor-fonte de todos os valores, e tornada possível pela subjetividade transcendental doadora de sentido, visando a subordinar a natureza a seus fins, através de formas que constituem renovadas tentativas de compor e harmonizar o espírito e o mundo”[42].
Críticas ao materialismo marxista: a riqueza fenomenológica da Lebenswelt é usada por Miguel Reale para criticar, em vários momentos do texto, o materialismo histórico de Karl Marx e sua pretensão de buscar um a priori jurídico que só goza de consistência teórica interna, e não explica o fenômeno do direito em sua inteireza, mas sim em pressupostos ideológicos centrados, tão-somente, na “luta de classes”:
A primeira categoria de problemas que, a meu ver, recebe mais adequado tratamento em virtude da compreensão do direito como experiência refere-se, preliminarmente, às tão discutidas relações de funcionalidade ou interdependência em que se encontra a experiência jurídica com as demais formas de experiência social. A colocação, por exemplo, das relações entre Direito e Economia em termos de “experiência” possibilita a análise do assunto segundo todas as suas perspectivas e implicações, sem ficar reduzida a uma das conhecidas interpretações de tipo reducionista, como [...] à maneira de Marx, entre “infra-estrutura” e “superestrutura” (consequência de sua unilateral compreensão da história)[43].
Mais adiante, diz Miguel Reale:
[...] a compreensão fenomenológica, ou, como prefiro dizer, ontognoseológica, ao mesmo tempo que possibilita a recepção integral dos dados do real, reconhecendo o a priori material que condiciona o ato cognoscitivo, evita a redução das objetivações culturais a meros epifenômenos de uma infra-estrutura, de natureza econômica, por exemplo, tal como pretende o materialismo histórico[44].
Essa unilateral compreensão histórica (uma historiografia enviesada) fomenta, p. ex., o discurso que aprisiona todo o fenômeno jurídico-penal sempre e necessariamente resultante da “luta de classes”, de um “controle social” de capitalistas contra assalariados[45].
Defesa da Lebenswelt: aos críticos de um suposto “romance” ou “irracionalismo” da teoria husserliana da Lebenswelt, Miguel Reale aduz, expressamente, que “a doutrina da Lebenswelt, do ‘mundo da vida’, — e que melhor fora chamar da ‘vida ou existência comum’ —, obedece a pressupostos críticos relativos às condições humanas de possibilidade, das quais cada forma de experiência emerge, segundo os fins que lhe são peculiares”[46].
O valor da dogmática: Miguel Reale tem atitude filosófica que não despreza a produção dogmática. Na verdade, critica abertamente a “abstração pela abstração”. Diz ser um “mal” que “o filósofo do Direito às vezes” ser “levado a confundir ‘exigência de universalidade’ com indiferença para com os problemas particulares que compõe a trama viva da experiência social, perdendo-se, dessarte, em abstrações infecundas”[47]. A seguinte passagem é um dos exemplos dados no meio da obra:
Seria [...] ridículo pretender diminuir o valor das categorias lógicas com que a Escola da Exegese ou os Pandectistas enriqueceram a Jurisprudência, dando-lhe uma estrutura e uma economia técnica de formas, que constituem ponto inamovível de partida para a renovação da Dogmática Jurídica, reclamada por uma sociedade plural num Estado a serviço do bem-estar social e da justiça concreta.
O que importa é não olvidar que as objetivações científicas do Direito — incompreensíveis sem referência às formas espontâneas de ordenação inerentes ao viver comum, — são por sua vez ingredientes da experiência humana, filtrando-se as suas soluções tipológicas, muitas vezes, até às camadas subjacentes da vida cotidiana, para determinarem novas exigências normativas[48].
O menosprezo dos filósofos do direito pelo próprio direito, i. e., pela “Lebenswelt jurídica”, digamos assim, é alvo de grande crítica de Miguel Reale. Não que a filosofia não tenha seu caráter especulativo, mas Reale consegue nos lembrar como a filosofia do direito tem de ser uma filosofia... Do direito. O especular jusfilosófico que parte do nada para uma abstração é um especular desapegado da realidade jurídica, da historicidade axiológica, da correlação dialética fato-valor-norma. E foi exatamente isso o que ocorreu — diz Reale, citando Recaséns Siches —, “com grande número de jurisfilósofos a partir do século passado, quando vieram, pouco a pouco, perdendo contacto com os problemas políticos, em geral, e com a problemática forense, em particular, isto é, com o direito vivido dia a dia por legisladores, juízes e advogados, acabando por se isolarem numa ‘Filosofia jurídica acadêmica’”[49]. A consequência “pedagógica” disso, nos cursos de graduação, seria a de “privar a Filosofia do Direito da função diretora outrora exercida pelos pensadores do direito sobre o envolver da experiência jurídica, tal como se comprovaria com a simples lembrança de nomes como Aristóteles, Cícero, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant ou Hegel, com a ação positiva dos jurisconsultos romanos, dos glosadores da Idade Média ou dos comentaristas cultos no início da época moderna”[50].
Desse “divórcio” entre a filosofia jurídica e a Lebenswelt forense seria possível responsabilizar os juristas de sua época “desde o instante em que eles”:
- a) se acomodaram numa posição restrita e secundária de analistas e sistematizadores de um direito posto por outrem, sem situarem a tarefa da Jurisprudência em função da totalidade da experiência jurídica, excluindo-a, indevidamente, do momento essencial representado pela legislação. Sinal dessa crise é o descrédito da Teoria da Legislação ou da Política do Direito, a cujas fontes já se procura em bora hora remontar;
- b) se afastaram cada vez mais da vivência dos institutos jurídicos, só possível em correlação com os fatos e valores sociais em seu perene envolver, para se contentarem com tímidos retoques na Jurisprudência conceitual, com vagas invocações de fórmulas sobre a “socialização do direito” ou o “dirigismo contratual”;
- c) não atualizaram as suas categorias lógicas de modo a atender às novas exigências do mundo contemporâneo, a tal ponto que ainda persistem em aplicar os esquemas de uma Dogmática Jurídica, inspirada pelo antigo Estado liberal individualistas, mas incompatível com o Estado da justiça social e das tarefas culturais reclamadas pelas forças criadoras do trabalho;
- d) e, acima de tudo, olvidaram que a Jurisprudência surgiu e se alimenta da confiança depositada na vontade ordenadora, no poder de síntese superadora inerente à concepção humanística do jus[51].
“Tipologia” do saber jurídico: Miguel Reale propõe três subdivisões de estudos ontognoseológicos. Os três troncos epistêmicos seriam:
a) a Deontologia Jurídica (estudo dos pressupostos axiológicos do direito);
b) a Culturologia Jurídica (estudo do direito segundo seus pressupostos ônticos); e
c) a Epistemologia Jurídica ou Teoria transcendental da Ciência do Direito (estudo do direito segundo suas premissas lógicas). É importante salientar que, para Reale, essa divisão parece ter perfil meramente didático, porque “tais partes especiais não são domínios estanques: constituem, antes, momentos que se integram necessariamente na global visão ontognoseológica e dialética do direito”[52].
Graficamente, Reale discrimina o saber jurídico da seguinte maneira[53]:

A tábua supra bem revela a pretensão de Reale: abranger o saber jurídico ou, mais precisamente, a Lebenswelt do direito, no máximo de vieses possíveis. Um penalista, e. g., não será “grande” se descuidar dos motivos psicológicos e sociológicos de um ato, “mas isto não quer dizer que o Direito Criminal se reduza a termos de Sociologia ou de Psicologia”, pois “a categoria do jurista é a categoria do dever ser, que não se confunde com a do psicólogo e a do sociólogo, pois o Direito só compreende o ser referido ao dever ser”[54]. Em texto recente, publicado na Revista Brasileira de Direito Processual, tivemos a oportunidade de salientar — com base no próprio Miguel Reale — que a “Lebenswelt processual”, digamos assim, pode ser captada não apenas pela dogmática processual, mas também por aquilo que chamamos de “processologia” (= estudo causal-explicativo do fenômeno processual, seria como a criminologia entre os penalistas) e de “política legislativa processual” (equivalente ao que os penalistas costumaram designar de “política criminal”):
Como processualistas, estamos desacostumados a enfrentar o fenômeno jurídico processual para além de suas facetas normativas. Se não se é grande penalista quem descuida da criminologia, por exemplo; pode-se cogitar um processualista desprovido de dados empíricos de “sua” própria ciência? Um bom processualista não tem de ser capaz de fornecer bases científicas para uma boa política legislativa?
Aqui o leitor deve começar a entender o que pretendemos dizer com o vocábulo “processologia”. Assim como o direito penal tem uma ciência causal-explicativa — a criminologia —, parece-nos possível pensar num estudo causal-explicativo voltado ao processo (e aí o sugestivo termo “processologia”). O déficit de empiricidade, entre os processualistas, revela justamente a baixa produção literária de estudos de cunho pragmático voltados ao fenômeno processual[55].
A “nomogênese jurídica”: já chegando no desfecho de nossa resenha — correndo o risco de deixá-la muito extensa —, escolhemos outro tema essencial para a compreensão das premissas teóricas de Miguel Reale. É claro que há muitas outras questões, mas é de seu conceito de nomogênese jurídica que encerraremos a análise de sua obra. Como um apertado resumo do próprio autor, pode-se dizer que, em sua proposta, “a norma jurídica não pode ser vista como um modelo lógico definitivo: é um modelo ético-funcional, sujeito à prudência exigida pelo conjunto das circunstâncias fático-axiológicas em que se acham situados os seus destinatários”[56].
Já utilizamos a teoria monogênica jurídica de Reale para questionar teses sustentadas por Luiz Guilherme Marinoni em seu Precedentes Obrigatórios. Segundo o processualista paranaense, a parte de um decisum que constitui um precedente é, apenas, aquela que versa sobre uma questão de direito[57]. No mesmo trilhar, e. g., Rupert Cross e James W. Harris apontam que decisões sobre fatos jamais constituem precedentes, já que cada fato tem sua particularidade singularíssima. Daí defenderem que que a decisão (que traz o precedente) deve abarcar só uma questão de direito[58]. Invocando as propostas de Reale e essas premissas de alguns “precedentalistas”, tive a oportunidade de escrever o seguinte (manterei os rodapés originais no corpo do próprio texto, até porque ele é de minha autoria):
Parece-me, contudo, que essas premissas merecem algumas ressalvas. Ainda que se diga que um precedente albergue apenas uma questão de direito, não se pode ignorar que os fatos — ao menos no criticismo gnoseológico, de Miguel Reale, por mim adotado — estão, sim, na “dialética existencial do Direito”. Como se sabe, o criticismo é corrente filosófica que se ocupa da problemática envolvendo o papel do sujeito diante de seu objeto de conhecimento. Talvez seja lícito dizer que Immanuel Kant foi o filósofo que mais levou aos extremos a dialética existente entre sujeito e objeto[59], a ponto de a ele se imputar a responsabilidade de ter operado uma revolução copernicana na teoria do conhecimento[60]. Neste sentido, a percepção do precedente, faceta do fenômeno jurídico em sentido lato, demanda, sim, a apreensão de fatos. Reale não segue, à risca, a gnoseologia kantiana[61] , até porque o movimento criticista não é homogêneo. É com o apoio da Lebenswelt (“mundo da vida”) — conceito inerente à fenomenologia de Edmund Husserl — que Reale aloca o fato como dimensão própria da experiência jurídica, mas sempre em dialética com os valores e com as normas. Neste sentido, o saudoso filósofo brasileiro aduz que “o Direito não é um fato que plana na abstração, ou seja, solto no espaço e no tempo, porque também está imerso na vida humana, que é um complexo de sentimentos e estimativas. O Direito é uma dimensão da vida humana. O Direito acontece no seio da vida humana. O Direito é algo que está no processo existencial e da coletividade”[62], em uma dialética existencial responsável por aquilo que Reale chama de nomogênese jurídica, expressada graficamente (e, talvez, mais didaticamente) na seguinte figura:
 O que quero dizer, com isto, é que não me parece seja possível abstrair de um precedente todo lastro fático que lhe envolvia. Pela perspectiva culturalista, essa separação absoluta não é possível. Basta pensar em institutos dos próprios precedentes, como o distinguishing, que demanda, como veremos abaixo, uma verdadeira distinção entre um caso e outro. Não há outro predicado em um caso senão o próprio fato julgado. Além disso, A. L. Goodhart, com sua conhecida técnica de obter a ratio decidendi, traz foco justamente aos fatos materiais (the material facts[63])[64].
O que quero dizer, com isto, é que não me parece seja possível abstrair de um precedente todo lastro fático que lhe envolvia. Pela perspectiva culturalista, essa separação absoluta não é possível. Basta pensar em institutos dos próprios precedentes, como o distinguishing, que demanda, como veremos abaixo, uma verdadeira distinção entre um caso e outro. Não há outro predicado em um caso senão o próprio fato julgado. Além disso, A. L. Goodhart, com sua conhecida técnica de obter a ratio decidendi, traz foco justamente aos fatos materiais (the material facts[63])[64].
Observação: essa coluna não pretende, JAMAIS, substituir a tarefa de efetiva leitura da obra analisada. Além disso, a resenha reflete a opinião pessoal do autor sobre o livro. Se tiver mais interesse, consulte a fonte!
* * *
Confira a análise no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=C4Gr0JbzeFc
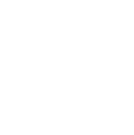










Comentários
Não há comentários nessa publicação.