As teorias medievais da analogia procuram responder a problemas em três áreas: lógica, teologia, e metafísica. Os lógicos estavam preocupados com o uso de termos plurissignificantes, sejam eles portadores de sentidos completamente diferentes ou relacionados de alguma forma. Os teólogos estavam preocupados com a linguagem sobre Deus. Como podemos falar de um ser espiritual transcendente e totalmente simples sem alterar o sentido dos termos que usamos? Os metafísicos estavam preocupados em como expressar essa realidade em palavras. Como podemos dizer que as substâncias (por exemplo, Sócrates) e os acidentes (por exemplo, a barbárie de Sócrates) existem enquanto um é dependente do outro; como podemos dizer que Deus e criaturas existem, quando um é criado pelo outro? Os pensadores medievais reagiram a esses três problemas desenvolvendo uma teoria que dividia as palavras em três tipos, independentemente do contexto: os unívocos (sempre usados com o mesmo sentido), os equívocos (usados com sentidos díspares), e os análogos (usados em sentido relacional). Os termos análogos eram considerados particularmente úteis na metafísica e na teologia, mas rotineiramente discutidos em comentários sobre a lógica de Aristóteles e em livros do tipo. O pano de fundo para a discussão foi dado pelo que é frequentemente chamado de analogia do ser ou analogia metafísica, a doutrina em que a realidade é dividida horizontalmente na realidade das substâncias e dos acidentes e verticalmente na realidade de Deus e das criaturas, e que essas realidades estão relacionadas de forma análoga. Não obstante, a expressão “teorias medievais da analogia”, como usada aqui, se referirá à analogia semântica, um conjunto de doutrinas linguísticas e lógicas suplementadas, pelo menos a partir do século XIV, por doutrinas sobre a natureza dos conceitos humanos.
Havia três tipos principais de analogia semântica, cada uma baseada em um tipo de analogia metafísica. No original grego, a analogia envolvia certa comparação entre duas proporções ou relações; assim, “princípio” foi dito ser um termo analógico quando dito de um ponto e uma fonte de água porque um ponto está relacionado a uma linha como uma nascente está relacionada a um rio. Esse primeiro tipo de analogia veio a ser chamado de analogia de proporcionalidade. Em outro sentido, a analogia envolve uma relação entre duas coisas, das quais uma é primária e a outra secundária; assim, “saudável” foi dito ser um termo analógico quando se fala de um cão e sua comida, porque enquanto o cão tem saúde no sentido primário, sua comida é saudável apenas secundariamente como contribuindo ou causando a saúde canina. Esse segundo tipo de analogia ficou conhecido como a analogia da atribuição, e sua marca especial é dita como em um sendo do anterior e do posterior (per prius et posterius). Um terceiro tipo de analogia, por vezes usada pelos teólogos, apela para uma relação de semelhança entre Deus e as criaturas. As criaturas são chamadas de boas ou justas simplesmente porque sua bondade ou justiça imita ou reflete a bondade ou a justiça de Deus. Essa analogia foi nomeada analogia de imitação ou participação. Dos três tipos, é a analogia da atribuição que é central nas discussões medievais.
A partir do século XIV, as discussões sobre analogia se concentraram não tanto no uso linguístico, mas também na natureza dos conceitos que correspondiam às palavras usadas. Existe apenas um conceito que corresponde a um termo análogo ou existe uma série de conceitos? Se este último, como os membros da série são ordenados e relacionados? Além disso, até que ponto devemos distinguir entre os chamados conceitos formais (ou atos mentais) e os conceitos objetivos (seja ele qual for o objeto do ato de compreender)? Essas discussões ainda eram influentes na época de Descartes.
- Teorias Medievais da Linguagem
- Problemas em Lógica, Teologia e Metafísica
- História do termo ‘Analogia’
- Divisões da Equivocação
- Divisões da Analogia
- Tomás de Aquino
- John Duns Scotus e o Papel dos Conceitos
- Cardeal Cayetano: Uma nova abordagem.
- Bibliografia
1.Teorias Medievais da Linguagem
Os lógicos e filósofos medievais da linguagem estavam principalmente preocupados com a relação entre enunciados, conceitos e coisas. A linguagem escrita era apenas de importância secundária. Eles concordavam que a linguagem falada era convencional, originando-se pela imposição ou simples decisão de correlacionar certos sons com certos objetos. Conceitos, no entanto, eram naturais, no sentido de que todos os seres humanos com experiências semelhantes tinham os mesmos conceitos, sem qualquer convenção ou coisa do tipo. A chave semântica era a significação, em vez de significado, embora as fontes traduzidas tendam a obscurecer isso traduzindo “significatio” como “significado”; pois para que um termo signifique é preciso que funcione como um sinal representante de algo conhecido que não ele mesmo. Um termo típico da linguagem falada, como “cavalo” ou “cachorro” significa de dois modos: torna conhecido o conceito com o qual se relaciona para obter sua função significativa e também significa ou torna conhecido algo externo e independente da mente [extra mentis]. Foram feitas modificações neste esquema simples de tipificação de termos especiais, incluindo termos sincategoremáticos, como “todos” e “não”, termos fictícios como “quimera” e termos privativos como “cegueira”; e modificações também foram feitas para tipificar os predicados especiais, como “é um gênero”, ou “é pensado”, mas não precisamos nos preocupar com essas modificações aqui.
As teorias da significação foram complicadas pelo problema metafísico das naturezas comuns [universais]. Se dissermos que as palavras significam não apenas conceitos, mas coisas externas e independentes da mente [extra mentis], queremos dizer que “ser humano” e “alto” significam objetos comuns especiais como a “humanidade” ou a “altura”, ou queremos dizer que eles significam Sócrates e sua qualidade de ser alto? Para Aquino, que não queria dar às naturezas comuns qualquer tipo de existência intermediária independente de ambos os conceitos e coisas reais, o significado (significatum) de um termo era a concepção do intelecto (seja simples ou definidora) acerca da coisa significada; a coisa significada (res significata) era geralmente a propriedade ou a natureza que caracteriza objetos externos individuais; e o referente (supositum) era o próprio objeto externo individual, visto como o portador de certa propriedade ou natureza. No entanto, não se pode dizer que “ser humano” signifique Sócrates, uma vez que a mente não pode conceber indivíduos físicos como tais. No século XIV, desenvolvimentos posteriores ocorreram, e havia um novo foco na noção de uma linguagem mental superior à linguagem falada, e os conceitos, como partes dessa linguagem mental, eram considerados como tendo significação. Além disso, os escotistas e os nominalistas concordaram que, pelo menos a princípio, os indivíduos físicos poderiam ser concebidos como tal. Guilherme de Ockham e seus seguidores não apenas negaram a existência das naturezas comuns [universais], mas insistiram que as palavras faladas não significam conceitos [flatus vocis]. Como resultado, tanto as palavras faladas quanto os conceitos aos quais as palavras faladas são subordinadas têm os mesmos significados, a saber, as coisas individuais e suas propriedades individuais, como a altura de Sócrates. Outros nominalistas, notoriamente Buridan, insistiram que as palavras faladas significam conceitos tanto quanto indivíduos, pois os conceitos são necessários enquanto medium entre as palavras faladas e as coisas individuais.
Além de ter significação, também se dizia que os termos tinham modos de significação (modi significandi). Esses modos de significar estavam relacionados às funções lógicas e gramaticais do termo e incluíam características essenciais como sendo um substantivo, verbo ou adjetivo, e características acidentais como tempo (que inclui o tempo sem se limitar a ele), gênero e caso. De modo mais geral, eles incluíam ser abstrato (por exemplo, justiça) e concreto (por exemplo, apenas). Eles também incluem modos de predicação, relacionados às dez categorias de Aristóteles, tais como substancial (por exemplo, cavalo), qualitativo (por exemplo, marrom), quantitativo (por exemplo, quadrado), relativo e assim por diante. A noção de modos de significação foi desenvolvida a partir do início do século XII, embora tenha sido especialmente enfatizada pelos gramáticos especulativos do final do século XIII.
É importante reconhecer que os pensadores medievais tinham uma visão composicionalista da significação da linguagem, e assim se pensava que as palavras eram dotadas de unidades tanto em sua significação quanto em quase todos os seus modos de significar antes do papel que subsequentemente desempenhariam nas proposições. Além disso, a doutrina das naturezas comuns [universais] sugere que os termos, pelo menos aqueles termos que parecem pertencer às dez categorias de Aristóteles (substância, qualidade, quantidade e assim por diante), correspondem a uma natureza comum e têm uma significação fixa e precisa. Isso significava que questões de uso e contexto, embora exploradas por lógicos medievais, especialmente por meio da teoria da suposição, não eram consideradas cruciais para a determinação de um termo como equívoco, análogo ou unívoco, e também significava que termos que não se encaixassem na estrutura categorial de Aristóteles precisavam de uma explicação especial. Este problema relaciona-se especialmente com a teologia, porque Deus foi pensado como transcendente às categorias no sentido de que nenhuma delas se aplica a ele, e também à metafísica, por causa dos chamados termos transcendentais, “ser”, “um”, “bom”; eles transcendem as categorias no sentido de que não pertencem mais a uma categoria do que a outra e não correspondem aos universais.
2.Problemas em Lógica, Teologia, e Metafísica
Para entender como surgiu a teoria da analogia, devemos ter em mente a história da educação na Europa ocidental de língua latina. Durante a chamada idade das trevas [1] o aprendizado estava em grande parte confinado aos mosteiros, e as pessoas tinham acesso a poucos textos do mundo antigo. Essa situação havia mudado dramaticamente no início do século XIII. As primeiras universidades (Bolonha, Paris, Oxford) haviam sido estabelecidas e a recuperação dos escritos de Aristóteles, complementada pelas obras dos filósofos islâmicos, estava em andamento.
Uma das fontes para a teoria da analogia é a doutrina dos termos equívocos encontrados em textos lógicos. Até o início do século XII, as únicas partes da lógica de Aristóteles disponíveis em latim eram as Categorias e a Interpretação, complementadas por alguns outros trabalhos, incluindo as monografias e comentários de Boécio. As Categorias se iniciam com uma breve caracterização dos termos utilizados de modo equívoco, como “animal” usado tanto para seres humanos reais quanto para seres humanos retratados e termos usados de modo unívoco, como “animal” usado tanto para seres humanos quanto para bois. No primeiro caso, o termo falado é o mesmo, mas existem dois significados distintos ou concepções intelectuais; no segundo caso, tanto o termo falado quanto o significante são os mesmos. Devemos observar que termos equívocos incluem homônimos (duas palavras com a mesma forma, mas sentidos diferentes, por exemplo, ‘caneta’), termos polissêmicos (uma palavra com dois ou mais sentidos) e, para pensadores medievais, nomes próprios compartilhados por pessoas diferentes. Em meados do século XII, o restante da lógica de Aristóteles tinha sido recuperado, incluindo as Refutações Sofísticas em que Aristóteles discute três tipos de equívocos e como eles contribuem para as falácias na lógica. Para os escritores de toda a idade média posterior, a discussão dos termos análogos foi posta no contexto dos termos unívocos e equívocos fornecidos por Aristóteles e seus comentaristas. Voltaremos a isso abaixo.
A teologia do século XII é outra fonte importante para a doutrina da analogia; para os teólogos do século XII, como Gilberto de la Porrée e Alan de Lille, que exploraram profundamente o problema da linguagem divina. Seus trabalhos inicialmente surgiram de obras sobre a Trindade por Agostinho e Boécio, e esses autores insistiram na doutrina que Deus é absolutamente simples, de modo que nenhuma distinção pode ser feita entre a essência de Deus e sua existência, ou entre uma perfeição, como a bondade, e outra, como a sabedoria ou, mais genericamente, entre Deus e suas propriedades. Nova atenção também foi dada aos teólogos gregos, especialmente ao Pseudo-Dionísio; esses teólogos insistiram na transcendência absoluta de Deus e no que veio a ser chamado de teologia negativa. Não podemos afirmar nada positivo sobre Deus, porque nenhuma afirmação pode ser apropriada a um ser transcendente. É melhor negar as propriedades de Deus, dizendo por exemplo que ele não é bom (isto é, no sentido humano), e ainda melhor dizer que Deus não existe, mas é super-existente [2], não substância, mas super-substancial, não é bom, mas super-bom Essas doutrinas teológicas levantaram o problema geral de como podemos falar significativamente de Deus, mas também levantaram vários problemas particulares. Dizer que “Deus é justiça” significa o mesmo que “Deus é justo”? Dizer que “Deus é justo” significa o mesmo que “Deus é bom”? Podemos dizer que Deus é justo e que Pedro é tão bom? Para nossos propósitos, esta última questão é a mais importante, pois levanta o problema de uma palavra usada para se referir a duas realidades diferentes.
A terceira fonte da doutrina da analogia é a metafísica. A primeira parte da Metafísica de Aristóteles tinha sido traduzida em meados do século XII, embora o texto completo tenha sido recuperado apenas gradualmente. Um texto crucial é encontrado em Metafísica 4.2 (1003a33-35): “Existem muitos sentidos (multis modis) nos quais ser (ens) pode ser dito, mas eles estão relacionados a um ponto central (ad unum), um tipo definido de coisa, que não é equívoca. Tudo o que é saudável está relacionado à saúde… e tudo o que é médico à medicina…”. Neste texto, Aristóteles levanta o problema geral da palavra “ser” e seus vários sentidos, e ele também introduz o que é conhecido como equívoco pros hen ou significado focal, a ideia de que diferentes sentidos podem ser unificados através de sua relação com um núcleo significante. Outro texto fundamental é da Metafísica de Avicena, também traduzida para o latim no século XII, onde ele escreve que ser (ens) não é nem um gênero nem um predicado derivado de todos os seus subordinados, mas uma noção (intentio) na qual eles concordam de acordo com o anterior e o posterior. Como veremos abaixo, essa referência ao anterior e ao posterior é particularmente importante.
Alguns antecedentes adicionais para o desenvolvimento da doutrina da analogia foram fornecidos pela discussão de Aristóteles sobre o raciocínio científico em seus Analíticos Posteriores, comentada pela primeira vez em 1220 por Roberto Grosseteste. Uma questão importante era como as relações analógicas poderiam ser usadas para encontrar uma maneira de se referir a coisas que não pertenciam a um gênero e que não possuíam um nome comum. Um exemplo popular em toda a idade média envolveu a explicação de Aristóteles da relação entre o “osso” de um choco, uma coluna e um osso normal (Analíticos Posteriores, 14.2, 98a20-23), embora houvesse algum desacordo sobre o tipo de analogia envolvido. Ainda mais importante foi a opinião de Aristóteles de que o raciocínio científico requer silogismos demonstrativos, e que, para ser logicamente válido, deve haver um termo médio que evite a falácia do equívoco. Até que ponto os termos análogos poderiam preencher esse papel foi um tema frequente de discussão e controvérsia. No século XIII, em suas perguntas sobre a Física de Aristóteles, Geoffrey de Aspall observou que a analogia não descartava a univocidade e nem impedia um sujeito de ser uno, enquanto no início do século XIV Scotus preferiu preservar a unidade abandonando o uso de termos análogos. No final do século XV, Cayetano apoiou fortemente a afirmação de que os termos análogos poderiam funcionar como termos intermediários. Nenhum desses autores sugeriu que a ciência natural e a teologia poderiam apelar para as relações analógicas para produzir argumentos probabilísticos ao invés de demonstrativos.
3.História do termo ‘Analogia’
O termo latino “analogia” possuía vários sentidos. Na exegese das Escrituras, de acordo com Aquino, a analogia era o método utilizado para demonstrar que uma parte da Escritura não entrava em conflito com outra. Na retórica e na gramática, a analogia era o método de resolver dúvidas sobre a forma de uma palavra apelando para um caso semelhante e mais certo. Vários teólogos do século XII usaram o termo nesse sentido. Nas traduções de Pseudo-Dionísio, o termo tinha um sentido estritamente ontológico, pois se refere à capacidade de um ser de participar das perfeições divinas, relacionando os seres inferiores e superiores. Na lógica, os autores estavam cientes de que a palavra grega “αναλογια”, por vezes chamada de “analogia” em latim, mas frequentemente traduzida como “proportio” ou “proportionalitas”, referia-se à comparação entre duas proporções. No entanto, na década de 1220, a palavra passou a estar ligada à frase “em sentido anterior e posterior” e, nos anos 1250, os termos ditos segundo uma comparação de proporções eram normalmente separados dos termos ditos segundo um senso do [entre uma proporção] anterior e [uma proporção] do posterior.
A frase “em um senso do anterior e posterior” parece ter sido derivada da filosofia árabe. H.A. Wolfson apresentou evidências para o reconhecimento de Aristóteles de um tipo de termo intermediário entre os termos equívocos e unívocos, alguns dos quais foram caracterizados por seu uso de acordo com a prioridade e s posteridade. Ele mostrou que Alexandre de Afrodisias chamava esse tipo de termo de “ambíguo” e que os filósofos árabes, começando com Alfarabi, faziam com que o senso do anterior e do posterior se fizesse a principal característica de todos os termos ambíguos. No que concerne ao Ocidente medieval latino, as principais fontes para a noção de um termo ambíguo dito em um sentido anterior e posterior são Al-Ghazali e Avicena, ambos conhecidos na segunda metade do século XII, e ambos os quais usaram a noção para explicar os usos do termo “ser”.
O termo “análogo” logo se tornou ligada ao termo “ambíguo” para os autores latinos. Falando do exemplo do choco [3] em seu comentário sobre os Analíticos Posteriores de Aristóteles, Grosseteste diz que o uso de Aristóteles da analogia para encontrar um termo comum produz nomes ambíguos quando ditos no sentido de um senso do anterior e do posterior, e usa o termo “ambiguum analogum”. Na mesma década, a glosa do teólogo Alexander de Hales liga o senso do anterior e do posterior como ambiguidade (em um manuscrito possivelmente não confiável) à analogia, e os escritos de Philip, o Chanceler, também o fazem. Nos livros didáticos de lógica, a palavra “analogia” nesse sentido aparece na Summe Metenses, datada por volta de 1220, mas agora pensada por Nicholas de Paris, escrevendo entre 1240 e 1260. O novo uso da “analogia” rapidamente tornou-se padrão entre os lógicos e teólogos.
4.Divisões da Equivocação
A fim de compreender o modo como as teorias da analogia se desenvolveram, precisamos considerar as divisões dos termos equívocos encontradas nos autores medievais. Em seu comentário sobre as Categorias, Boécio apresentou uma série de divisões que ele tirou de autores gregos. A primeira divisão foi em equívocos por acaso e equívocos deliberados. No primeiro caso, as ocorrências do termo duvidoso eram totalmente desconexas, como quando um animal latindo, um animal marinho e uma constelação eram todos chamados “canis” (cão). O equívoco por acaso também era chamado de equívoco puro, e foi cuidadosamente distinto da analogia por escritores posteriores. No segundo caso, o do equívoco deliberado, alguma intenção por parte dos falantes estava envolvida, e as ocorrências do termo equívoco poderiam ser relacionadas de várias maneiras. O próprio Boécio deu quatro subdivisões encontradas em várias fontes posteriores, incluindo o comentário de Ockham sobre as Categorias, mas, como veremos, outras subdivisões se tornaram mais populares.
A primeira das quatro subdivisões de Boécio foi a semelhança, usada no caso do substantivo “animal”, que dizia respeito tanto a seres humanos reais quanto a seres humanos retratados. Os lógicos medievais parecem ter ignorado totalmente o fato de que a palavra grega usada por Aristóteles era genuinamente polissêmica, significando animal e imagem, e explicavam o uso prolongado de “animal” em termos de semelhança entre dois referentes — semelhança que nada tinha a ver com o significado do termo “animal”, que escolhe um certo tipo de natureza, mas que, não obstante, é mais que metafórico, na medida em que a forma externa do objeto representado corresponde àquela do objeto vivo. Os autores medievais cuja discussão sobre o equívoco foi muito breve tenderam a usar esse exemplo, e frequentemente alegavam que Aristóteles o introduziu para acomodar a analogia como um tipo de equívoco. Por outro lado, autores cuja discussão foi mais extensa tenderam a abandonar tanto o exemplo quanto a subdivisão da similitude.
O segundo tipo de equívoco de Boécio é a “analogia” no sentido grego, e o exemplo padrão era o termo “principium” (princípio ou origem), que se dizia aplicar tanto à unidade em relação ao número quanto ao ponto em relação à linha, ou para a nascente de um rio e o coração de um animal. Princípio é um substantivo e, como tal, pode-se esperar que refira-se a uma natureza comum, mas embora uma unidade, um ponto, uma fonte e um coração possam todos ser chamados de principium com igual propriedade, não existe uma natureza comum envolvida. Objetos matemáticos, rios e corações, representam não apenas tipos naturais diferentes, mas categorias diferentes, em que os objetos matemáticos se enquadram na categoria de quantidade e os corações, pelo menos, na categoria de substância. O que permite que essas coisas díspares sejam agrupadas é uma semelhança de relações: uma fonte é para um rio o que um coração é para um animal – ou assim foi reivindicado. Enquanto os teólogos, incluindo o próprio Tomás de Aquino em De Veritate e o dominicano Thomas Sutton do século XIV, ocasionalmente fazem uso desse tipo de analogia, a maioria dos lógicos nem sequer menciona isso.
As últimas duas subdivisões encontradas em Boécio são “de certa origem” (ab uno), com o exemplo do termo “medicado”, e “em relação a um” (ad unum), com o exemplo do termo “saudável”. Essas subdivisões correspondem ao equívoco de Aristóteles. O exemplo “saudável” (sanum), como dito dos animais, sua dieta e sua urina é particularmente importante aqui. “Sanum”, como outros adjetivos, foi classificado como um termo acidental concreto. Como tal, não se enquadra numa categoria aristotélica, uma vez que a sua significação primária tinha dois elementos cuja combinação foi explicada de várias maneiras. Por um lado, algum tipo de referência é feita à entidade abstrata saúde, que pertence à categoria de qualidade; por outro lado, algum tipo de referência é feita a um objeto externo que pertence à categoria da substância. Essa dupla referência impede que o termo escolha um tipo natural, embora no caso de outros adjetivos, como “marrom”, nenhum problema seja causado por ele. As coisas marrons podem não formar um tipo natural, mas pelo menos elas são todas objetos físicos, e “marrom” é usado no mesmo sentido de cada uma delas. “Saudável” [sanum], no entanto, é mais complicado. Dizer que Rover é saudável é dizer que o Rover é uma coisa que tem saúde e, obviamente, essa análise não pode ser aplicada à dieta, que é chamada de saudável apenas porque causa saúde em um animal, assim como sua urina, que é chamada de saudável somente quando é sinal de saúde em um animal. Quaisquer que sejam as propriedades que caracterizem a urina e a comida, elas são diferentes daquelas que caracterizam o animal.
Devemos também notar que, na mesma passagem de seu comentário sobre as Categorias, Boécio ligava o equívoco deliberado à metáfora, em que o sentido de uma palavra com certa significação estabelecida era estendido para se aplicar indevidamente a outra coisa. O exemplo medieval favorito era “sorridente”, dito de prados floridos. Mais tarde, os lógicos apoiaram essa ligação entre o equívoco e a metáfora por meio de um apelo às divisões de equivocidade em Aristóteles em suas Refutações Sofísticas, nas quais observou que o segundo tipo baseava-se no uso comum. Como veremos, a questão da relação da metáfora com a analogia tornou-se particularmente importante nas discussões pós-século XIII.
5.Divisões da Analogia
As subdivisões de Boécio tiveram um grande fracasso: elas não pareciam acomodar os diferentes usos do termo “ser” (ens). Como resultado, muitos autores usaram uma nova divisão tríplice, que incluiu as duas últimas subdivisões de Boécio e mais uma. Eles apresentaram a divisão como uma divisão de equívocos deliberados e identificaram equívocos deliberados com termos análogos. Essa tríplice divisão da analogia foi estabelecida no século XIII, em resposta a uma observação de Averróis, em seu Comentário à Metafísica, no sentido de que Aristóteles classificou “saudável” como um caso de relação com uma coisa como um fim “saudável” como um caso de relacionamento com uma coisa como um agente, e “ser” (ens) como um caso de relacionamento com um sujeito. Encontra-se no próprio comentário de Tomás de Aquino sobre a Metafísica, bem como no seu seguidor do século XV, Capreolo. Um termo analógico é agora visto como o que é dito de duas coisas em um sendo das proporções anteriores e posteriores, e está fundamentado em vários tipos de atribuição ou relação com o objeto primário: comida é saudável como causa de um animal saudável, o procedimento é médico quando aplicado por um agente médico, sendo uma qualidade em virtude da substância existente que caracteriza.
Uma segunda divisão tríplice de analogia surgiu da reflexão sobre a relação entre termos equívocos e análogos. Diziam que os termos análogos eram intermediários entre termos equívocos e unívocos, e a visão padrão era de que os termos análogos eram intermediários entre os equívocos por acaso e os unívocos e, portanto, que deviam ser identificados com equívocos deliberados. A noção de termo intermediário, entretanto, está aberta a mais de uma interpretação, e alguns autores foram além, sugerindo que pelo menos alguns termos análogos eram intermediários entre unívocos e equívocos deliberados, de modo que não eram equívocos em nenhum dos sentidos normais em absoluto. No final do século XIII, um comentarista anônimo sobre as Refutações Sofísticas de Aristóteles dá a seguinte classificação: primeiro, existem termos análogos que são unívocos em um sentido amplo de “unívoco”; aqui foi feita referência a termos genéricos como “animal”; os seres humanos e as jumentas participam igualmente do animal enquanto universal, mas não são iguais, já que os seres humanos são mais perfeitos que os jumentos. Esse tipo de analogia foi rotineiramente discutido em resposta a uma observação feita por Aristóteles no livro VII da Física (249a22-25) que, na tradução latina, afirmava que muitos equívocos estão ocultos em um gênero. Os lógicos medievais se sentiam obrigados a encaixar essa afirmação na estrutura do equívoco e da analogia, mesmo se o consenso fosse de que, no final, o uso de termos do gênero era unívoco. Em segundo lugar, há aqueles termos análogos como “ser” (ens) que não são equívocos, porque apenas um conceito ou natureza (ratio) parece estar envolvido, e que também não são unívocos, porque as coisas participam dessa razão desigualmente, em razão de um anterior e um posterior. São esses termos os intermediários genuínos. Terceiro, há aqueles termos análogos que são equivocais deliberados, porque existem dois conceitos ou naturezas (raciones) que são participadas de um modo anterior e posterior. O exemplo aqui foi “saudável”. Esta segunda divisão tríplice foi muito discutida. Duns Scotus criticou duramente em seus escritos lógicos anteriores; Walter Burley afirmou que tanto o primeiro quanto o segundo tipo de termo analógico poderiam ser apropriadamente considerados unívocos em sentido amplo. A divisão foi popular no século XV com tomistas como Capreolo, que perceberam sua proximidade com o relato dado por Tomás de Aquino em seu comentário às Sentenças de Pedro Lombardo.
6.Tomás de Aquino
Apesar da vasta literatura moderna dedicada à teoria da analogia de Tomás de Aquino, ele tem muito pouco a dizer sobre a analogia como tal. Ele usa uma divisão geral em usos de termos equívocos, unívocos e análogos, e apresenta as três divisões analógicas mencionadas na seção anterior mas não oferece nenhuma discussão prolongada, e escreve como se estivesse simplesmente usando as divisões, definições e exemplos com os quais todos estão familiarizados. Sua importância está na maneira como ele usou esse material padrão para apresentar um relato dos nomes divinos, ou como é que podemos usar significativamente termos como “bom” e “sábio” sobre Deus.
O pano de fundo dessa explicação deve ser entendido em termos da teologia e metafísica em Aquino. Três doutrinas são particularmente importantes: primeiro, há a distinção entre ser existente, bom, sábio, e assim por diante, essencialmente [a se], e ser existente, bom, sábio e assim por diante, por participação [ab alio]. Deus é tudo o que ele é essencialmente, e como resultado ele é a própria existência [4], a bondade em si, a própria sabedoria. As criaturas são existentes, boas, sábias, somente participando da existência, bondade, e sabedoria de Deus, e essa participação tem três características: a separação entre a criatura e suas propriedades, a deficiente semelhança entre Deus e a criatura; a relação causal da criatura com Deus. Primeiro, o que é essencialmente existente ou bom é a causa do que tem existência ou bondade por participação; segundo, há a doutrina geral da causalidade segundo a qual todo agente produz algo como ele mesmo — a causalidade e semelhança do agente não podem ser separadas; terceiro, há a crença de Aquino de que estamos realmente autorizados a afirmar que Deus é existente, bom, sábio e assim por diante, embora não possamos conhecer sua essência.
Contra esse pano de fundo, Tomás de Aquino pergunta como devemos interpretar os nomes divinos. Ele argumenta que eles não podem ser puramente equívocos, pois não poderíamos então fazer afirmações inteligíveis sobre Deus; tampouco podem ser puramente unívocos, pois o modo de ser de Deus e seu relacionamento com suas propriedades são suficientemente diferentes das nossas de modo que as palavras devam ser usadas em sentidos distintos. Portanto, os termos que usamos para falar de Deus devem ser análogos, usados em sentidos diferentes, mas relacionados. Para ser mais preciso, parece que palavras como “bom” e “sábio” devem envolver um relacionamento com uma realidade anterior, e elas devem ser predicadas em um sendo das proporções segundo o anterior e o posterior, pois essas são as marcas dos termos análogos.
Não obstante, os nomes divinos não funcionam exatamente como termos análogos comuns, como “saudável”. Precisamos começar fazendo uso da distinção entre a coisa significada (uma natureza ou propriedade) e o modo de significar. Todas as palavras que usamos têm um modo de significância em que implicam tempo e composição, e nenhuma delas pode pertencer a Deus. Quando falamos de Deus, devemos reconhecer esse fato e tentar descartá-lo. Dizer “Deus é bom” não é sugerir que Deus tem uma propriedade destacável, a bondade, e que ele a possui de maneira temporalmente limitada; Deus é eternamente idêntico à bondade em si. Mas mesmo quando descontamos o modo de significação da criatura, ficamos com o fato de que a bondade de Deus não é como a nossa bondade, e é aí que a analogia da atribuição entra em cena.
Em seus primeiros escritos, Tomás de Aquino questionou se o relato padrão da analogia da atribuição era suficiente para seus propósitos. Em seu comentário às Sentenças de Pedro Lombardo, ele sugere que há um tipo de analogia em que o termo analógico é usado em um sentido anterior e posterior, e outro tipo de analogia, a analogia da imitação, que se aplica a Deus e às criaturas. Em seu De veritate, ele argumenta que a analogia da atribuição envolve uma relação determinada, que não pode ser mantida entre Deus e as criaturas, e que a analogia de proporcionalidade deve ser usada para os nomes divinos. Nós devemos comparar a relação entre Deus e suas propriedades com a relação entre as criaturas e suas propriedades. Esta solução foi profundamente falha, dado que o problema dos nomes divinos surge precisamente porque a relação de Deus com as suas propriedades é radicalmente diferente da nossa relação com as nossas propriedades. Consequentemente, em suas discussões posteriores sobre os nomes divinos, notavelmente na Summa contra Gentiles e na Summa Theologiae, Aquino retorna à analogia de atribuição, mas a relaciona muito mais propriamente com suas doutrinas de similitude causal. Como Montagnes apontou, ele colocou uma ênfase muito maior na causação do agente, na transmissão ativa de propriedades de Deus e das criaturas, do que na causalidade exemplar, na reflexão passiva da criatura ou na imitação das propriedades de Deus. Nesse contexto, Tomás de Aquino faz uso considerável de sua distinção ontológica entre causas unívocas, cujos efeitos são totalmente semelhantes a elas, e causas não unívocas, cujos efeitos não são totalmente semelhantes a elas. Deus é uma causa análoga, e esta é a realidade subjacente ao nosso uso dos termos análogos.
As visões de Aquino sobre a causalidade do agente explicam sua insistência na inclusão de definições. Ele diz explicitamente que o termo dito de maneira anterior deve ser incluído na definição do posterior, assim como a definição de alimento saudável inclui uma referência à saúde do animal. No caso divino, a referência não é direta ou explícita, mas é uma função de nosso reconhecimento de que quando se diz que os seres humanos são bons, isso significa que eles têm uma bondade participada que deve ser causada por aquilo que é a própria bondade. A natureza dessa relação causal entre Deus e a criatura também ajuda a explicar o sentido em que os termos são ditos primeiramente de Deus. No que diz respeito à imposição, os termos recebem a sua significação com base nos efeitos da criação de criaturas e, antes de aprendermos sobre Deus, podemos pensar que o seu uso anterior é referir-se às perfeições da creatura. Contudo, quando chegamos a conhecer a Deus como a primeira causa e o ser plenamente perfeito, reconhecemos que a sua aplicação primeira é a Deus. Finalmente, as doutrinas causais de Aquino nos ajudam a explicar sua insistência na distinção entre a analogia de muitos para um e a analogia de um para outro. No primeiro caso, diz-se que tanto a comida quanto a medicina são saudáveis, porque cada uma está relacionada a alguma outra coisa, a saúde de um animal. No segundo caso, diz-se que a comida é saudável devido à sua relação com a saúde de um animal. Apenas o segundo tipo de analogia se aplica aos nomes divinos, pois nenhum nome não-metafórico que aplicamos a Deus pode ser explicado em termos de algo diferente de Deus. Nosso uso de nomes divinos tem que refletir a prioridade absoluta de Deus.
7.John Duns Scotus e o Papel dos Conceitos
Uma das questões que Tomás de Aquino tocou, mas não resolveu, foi a do número de rationes a que um termo análogo estava associado. Esta questão resultou das categorias de Aristóteles. Como traduzido por Boécio, Aristóteles introduziu a distinção entre termos unívocos e equívocos afirmando que, enquanto termos unívocos eram subordinados a uma relação substantiva, termos equívocos eram subordinados a mais de uma relação substantiva. A palavra “proporção” aqui é capaz de várias interpretações, incluindo “definição ou descrição”, “análise” ou “conceito”, mas no início do século XIV lógicos e teólogos chegaram a concordar que a interpretação apropriada era “conceito”. A segunda divisão tripla da analogia dada acima sugere a importância de um foco nos conceitos; e a questão de quantos conceitos um termo analógico estava subordinado passou a ser central. Os nominalistas sustentavam que os chamados termos análogos eram metafóricos ou eram termos diretamente equívocos subordinados a dois conceitos distintos, mas os tomistas estavam divididos. Termos análogos poderiam ser vistos como subordinados a um conjunto ordenado de conceitos (possivelmente mas não necessariamente descritos como uma disjunção de conceitos); ou poderiam ser subordinados a um único conceito que representa de uma maneira anterior e posterior (per prius et posterius).
A questão foi consideravelmente complicada pela influência de John Duns Scotus. Em seus primeiros comentários lógicos, Scotus argumentou que era impossível ter dois conceitos relacionados de maneira per prius et posterius assim como era impossível ter um conceito único que capturasse tal relação. Como resultado, “ser” era um equívoco, e a metáfora, que era uma questão de uso linguístico, substituía a analogia semântica. No entanto, Scotus acreditava na analogia metafísica, segundo a qual Deus e criaturas, substâncias e acidentes eram relacionados de modo per prius et posterius, e em seus trabalhos teológicos posteriores ele argumentou que sem um conceito unificado de Ser nem metafísica nem teologia seriam possíveis. Assim, ele substituiu a afirmação de que “ser” era um equívoco com a alegação de que era unívoco. Para apoiar essa afirmação, ele rejeitou a doutrina comum de que, para que um termo fosse unívoco, ele deveria ser um termo estritamente categorial, escolhendo algum tipo natural ou outro; ele argumentou que era suficiente para a univocidade que a contradição surgisse quando o termo fosse afirmado e negado da mesma coisa. Ele então argumentou que “ser” (ens) era um termo unívoco subordinado a um único conceito unívoco.
Mesmo para aqueles dentro da tradição tomista, os argumentos de Scotus sobre a univocidade do “ser” tinham que ser levados a sério. Por um lado, a palavra não parece ser diretamente equívoca, no sentido de estar subordinada a mais de um conceito, pois pelo menos temos a ilusão de ser capaz de compreender “ser” como um termo geral. Como Scotus apontou, em um argumento reproduzido por todos que consideraram a questão, podemos compreender que algo é um ser enquanto duvidamos se é uma substância ou um acidente, e isso certamente envolve ter um conceito relativamente simples de “ser” à nossa disposição. Por outro lado, não parece haver qualquer natureza comum envolvida e, na ausência de uma natureza comum, os tomistas achavam que chamar o termo “unívoco” era inadequado. O que era necessário era uma maneira de permitir que o conceito desfrutasse de algum tipo de unidade, enquanto permitia que a palavra tivesse um significado que não fosse uma simples natureza comum. Para muitos pensadores do início do século XIV em diante, a distinção entre conceitos formais e objetivos forneceu a resposta.
O conceito formal era o ato da mente ou concepção que representava um objeto, e o conceito objetivo era o objeto representado. Se a palavra falada “ser” corresponde a apenas um conceito formal (um ponto em que havia algumas diferenças de opinião), o foco da discussão muda para o status do conceito objetivo. É a coisa real no mundo que é pensada; é uma natureza comum ou algum outro tipo de entidade intermediária que é distinta do objeto externo sem ser dependente da mente; ou é um tipo especial de objeto dependente da mente que tem apenas um ser objetivo, o ser de ser pensado (esse objective, esse cognitum)? No caso do "ser", uma vez que claramente não estamos falando de uma coisa individual ou de uma natureza comum, voltamos ao conjunto original de perguntas sobre conceitos análogos, agora apresentados em um nível diferente. Ou seja, estamos falando de uma ordenação especial intrínseca a um único conceito objetivo, ou estamos falando de uma sequência ordenada de conceitos objetivos que corresponde ao conceito formal único?
8.Cardeal Cayetano: Uma Nova Abordagem
Em 1498, Tomás de Vio, o cardeal Cayetano, escreveu um pequeno livro intitulado On the Analogy of Names, com que ele pretendia complementar seu comentário sobre as Categorias de Aristóteles. O trabalho não foi publicado até 1506, quando foi incluído em uma coletânea de textos curtos que foram reimpressos pelo menos seis vezes durante o século. Talvez por sua importante contribuição para o renascimento do tomismo no século XVI, a contribuição de Cayetano para as discussões sobre analogia foi deturpada nos tempos modernos. Assumiu-se que ele estava comentando diretamente Tomás de Aquino em vez de seus antecessores imediatos, e que suas opiniões eram centrais para as discussões do século XVI. De fato, sua influência foi leve a princípio, e quando ele se tornou mais lido, importantes autores escolásticos tardios como Francisco Suárez argumentaram contra suas doutrinas.
Parte do livro de Cayetano é dedicado a conceitos formais e objetivos e maneiras pelas quais estes últimos podem ser ordenados, mas ele também ofereceu uma nova divisão tripla dos tipos de analogia. Ele chamou o primeiro tipo, o caso de termos genéricos, analogia da desigualdade, e descartou-o como sem importância; na verdade, não como analogia propriamente dita. Ele chamou o segundo tipo de analogia de atribuição, e aquifez duas mudanças. Primeiro, ele deu um novo relato de suas subdivisões adicionando a subdivisão de Boécio à primeira divisão tripla, envolvendo a atribuição a uma causa eficiente, um fim e um sujeito. Ele descreveu as quatro subdivisões resultantes em termos das quatro causas de Aristóteles. Em segundo lugar, ele alegou que a atribuição envolvia apenas a denominação extrínseca. Ou seja, em cada caso de atribuição, apenas o objeto anterior é intrinsecamente caracterizado pela propriedade em questão, por exemplo, saúde.
Cayetano chamou o terceiro tipo de analogia de analogia da proporcionalidade, e a subdividiu em metáfora e proporcionalidade propriamente. Seu relato da metáfora era comum e remonta à observação de Aquino de que os campos são ditos sorrirem porque a floração está relacionada aos prados do mesmo modo que o sorriso está relacionado aos seres humanos. Ele alegou que a proporcionalidade propriamente era a analogia no sentido grego da palavra, e que era o único tipo verdadeiro de analogia. Além disso, envolve apenas a denominação intrínseca, ou seja, tanto o objeto primário quanto o secundário referidos são caracterizados pela propriedade em questão. Ele permitiu que a palavra “ser” fosse usada de acordo com a atribuição quando pensamos em criaturas como seres apenas porque elas refletem a natureza do Deus que as criou, mas em geral ele sustentava que “ser” e todos os outros termos análogos metafísica e teologicamente importantes pertenciam principalmente a essa terceira divisão. Tanto em sua insistência na prioridade da proporcionalidade adequada quanto no uso de uma distinção nítida entre denominação intrínseca e extrínseca, Cayetano afastou-se das discussões medievais anteriores sobre a analogia. Foi também nesses pontos que seus últimos sucessores escolásticos discordaram dele. Por exemplo, Suárez sustentava que o principal uso da proporcionalidade era dar conta da metáfora, e que a analogia de atribuição abrangia tanto a denominação intrínseca quanto a extrínseca.
É lamentável que muitos comentadores posteriores tenham sido levados a interpretar o relato de analogia de Cayetano como um caso típico e, ainda mais infelizmente, como um resumo útil das doutrinas de Aquino. No entanto, estudos mais recentes envolvendo um sem número de autores estão começando a mudar essa situação.
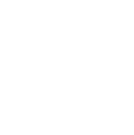











Comentários
Não há comentários nessa publicação.