O cientificismo é a visão de que todo conhecimento verdadeiro é conhecimento científico — que não existe uma forma racional e objetiva de investigação que não seja um ramo da ciência. Há pelo menos um cheiro de cientificismo no pensamento daqueles que rejeitam objeções éticas à clonagem ou à pesquisa de células-tronco embrionárias como inerentemente “anti-ciência”. Há consideravelmente mais do que um cheiro no trabalho de escritores do Neoateísmo, como Richard Dawkins e Christopher Hitchens, que alegam que, porque a religião não tem fundamento científico (ou assim eles afirmam), ela “portanto” não tem fundamento racional. Ele é evidente mesmo em escritores conservadores seculares como John Derbyshire e Heather Mac Donald, cujas críticas a seus colegas religiosos de direita são apenas um pouco menos condescendentes do que as de Dawkins e companhia. De fato, a cultura em geral parece embebida de um cientificismo incipiente — a “fé” costuma ser lançada contra a “ciência” (mesmo por aqueles que são amigáveis à primeira) como se “ciência” fosse sinônimo de “razão”.
Apesar da pose de racionalidade de seus adeptos, o cientificismo tem um problema sério: ele é auto-refutante ou trivial. Tome o primeiro aspecto desse dilema. A afirmação de que o cientificismo é verdadeiro não é em si uma afirmação científica, não é algo que possa ser estabelecido utilizando métodos científicos. De fato, até mesmo que a ciência seja uma forma racional de investigação (e ainda menos a única forma racional de investigação) não é algo que possa ser estabelecido cientificamente. Pois a própria investigação científica se apoia em várias suposições filosóficas: que existe um mundo objetivo externo às mentes dos cientistas; que este mundo é governado por regularidades causais; que o intelecto humano pode descobrir e descrever com precisão essas regularidades; e assim por diante. Como a ciência pressupõe essas coisas, ela não pode tentar justificá-las sem andar em círculos. E se ela não pode sequer estabelecer que é uma forma confiável de investigação, ela dificilmente pode estabelecer que é a única forma confiável. Ambas as tarefas exigiriam “ficar de fora” da ciência e descobrir, a partir desse ponto de vista extra-científico, que a ciência fornece uma imagem precisa da realidade — e, no caso do cientificismo, que apenas a ciência o faz.
A investigação racional dos pressupostos filosóficos da ciência é, naturalmente, tradicionalmente considerada como a província da filosofia. Nem são apenas tais pressupostos que a filosofia examina. Há também a questão de como interpretar o que a ciência nos diz sobre o mundo. Por exemplo, o mundo é fundamentalmente composto de substâncias ou eventos? O que é ser uma “causa”? Existe apenas um tipo? (Aristóteles sustentou que existem pelo menos quatro.) Qual é a natureza dos universais mencionados nas leis científicas — conceitos como quarks, elétrons, átomos etc — e de fato na linguagem em geral? Eles existem além das coisas particulares que as instanciam? As descobertas científicas podem lançar luz sobre essas questões metafísicas, mas nunca podem respondê-las completamente. No entanto, se a ciência deve depender da filosofia para justificar seus pressupostos e interpretar seus resultados, a falsidade do cientificismo parece duplamente garantida. Como conclui o filósofo conservador John Kekes (ele próprio um secularista confirmado como Derbyshire e Mac Donald): “Portanto, a filosofia, e não a ciência, é um candidato mais forte a ser o próprio paradigma da racionalidade”.
Aqui chegamos à segunda ponta do dilema que o cientificismo enfrenta. Seu defensor agora pode insistir: se a filosofia tem esse status, ela realmente deve fazer parte da ciência, uma vez que (ele continua a forçar) toda pesquisa racional é pesquisa científica. O problema agora é que o cientificismo se torna completamente trivial, redefinindo arbitrariamente a “ciência”, de modo que inclua qualquer coisa que possa ser apresentada como evidência contra ela. Pior, isso torna o cientificismo consistente com visões que deveriam ser incompatíveis com ele. Por exemplo, uma linha de pensamento derivada de Aristóteles e desenvolvida com grande sofisticação por Tomás de Aquino sustenta que, quando descobrimos o que é uma coisa ser a causa de outra, somos inexoravelmente levados à existência de uma Causa Não Causada fora do tempo e espaço que sustenta continuamente as regularidades causais estudadas pela ciência, e além da qual estas, em princípio, não poderiam existir nem por um momento.
Se “cientificismo” é definido de maneira tão ampla que inclui (pelo menos em princípio) teologia filosófica desse tipo, então o ponto de vista se torna completamente vazio. Pois todo o objetivo do cientificismo — ou assim pareceria dada a retórica de seus mais altos adeptos — seria fornecer uma arma pela qual campos de investigação como a teologia pudessem ser descartados como inerentemente não-científicos e irracionais. (Obviamente, o argumento da Causa Primeira para a existência de Deus é controverso, mas teve e continua a ter defensores proeminentes até os dias atuais. Para os leitores interessados, eu explico e defendo o argumento detalhadamente — e mostro o quanto Dawkins e companhia o entenderam errado — em meus livros recentes A Última Superstição: Uma Refutação do Neoateísmo e Aquinas.)
Os conservadores, mais do que quaisquer outros, devem ser cautelosos com as pretensões do cientificismo, uma ideologia procustiana cujas pretensões foram expostas com particular discernimento por F. A. Hayek, um dos grandes heróis dos conservadores contemporâneos (incluindo, talvez especialmente, conservadores seculares — o próprio Hayek era um agnóstico sem o machado religioso para moer). Em seu ensaio de três partes, “Scientism and the study of society” (reimpresso em seu livro The Counter-Revolution of Science) e em seu livro The Sensory Order, Hayek mostra que o projeto de reconceber a natureza humana em particular e inteiramente em termos das categorias das ciências naturais é impossível em princípio.
A razão tem a ver com o que Hayek chama de “objetivismo” inerente ao cientificismo. A ciência moderna surgiu em grande parte de uma preocupação prática e política — tornar os homens “mestres e possuidores da natureza” (como Descartes colocou) e aprimorar a “utilidade e poder humanos” através das “artes mecânicas” ou da tecnologia (nas palavras de Bacon). Esse objetivo poderia ser alcançado apenas se focando nos aspectos do mundo natural suscetíveis de previsão e controle estritos, e isso, por sua vez, exigia uma metodologia quantitativa, de forma que a matemática passasse a ser considerada como a linguagem na qual o “livro da natureza” foi escrito (na conhecida frase de Galileu). E, no entanto, nossa experiência cotidiana comum do mundo é qualitativa por completo — percebemos cores, sons, calor e frescor, propósitos e significados.
Como devemos conciliar essa “imagem manifesta” do senso comum do mundo com a “imagem científica” quantitativa (para emprestar a famosa distinção do filósofo Wilfrid Sellars)? A resposta é que elas não podem ser conciliadas. Assim, o “senso comum” qualitativo da “imagem manifesta” passou a ser considerado um mundo de mera “aparência”, com apenas a nova “imagem científica” quantitativa transmitindo a “realidade”. A primeira seria redefinida como “subjetiva” — cor, som, calor, frio, significado, propósito e similares, como o senso comum os entende, existem apenas na mente. A realidade “objetiva”, revelada pela ciência e descrita na linguagem da matemática, era considerada um mundo de partículas incolores, silenciosas e sem sentido em movimento. Ou melhor, se a cor, a temperatura, o som e similares devem ser considerados existentes na realidade objetiva, eles devem ser redefinidos — calor e frio reconcebidos em termos de movimento molecular, cor em termos de reflexão de fótons em certos comprimentos de onda, som em termos de ondas de compressão, e assim por diante. O que o senso comum significa por “calor”, “frio”, “vermelho”, “verde”, “alto” etc, etc — a maneira como as coisas são sentidas, parecem, soam, e assim por diante, na experiência consciente — desaparece como uma mera projeção da mente. O novo método assegurou, assim, que o mundo natural estudado pela ciência seria quantificável, previsível e controlável — precisamente redefinindo a “ciência” para que nada que não se encaixasse no método seria permitido contar como “físico”, “material” ou “natural”. Todos os fenômenos recalcitrantes seriam simplesmente “varridos para debaixo do tapete” da mente, reinterpretados como parte das lentes mentais através das quais percebemos a realidade externa e não como parte da própria realidade externa.
A visão de Hayek era de que a própria natureza do objetivismo impede que ele seja aplicado de forma coerente no quadro da própria mente humana. Uma vez que a mente é justamente o domínio “subjetivo” das chamadas “aparências” — o tapete sob o qual tudo que não se encaixa no método “objetivista” foi varrido —, ela não pode nem em teoria ser assimilada via modelagem quantitativa do mundo material, tal como esse mundo foi caracterizado pela ciência física. A própria natureza do entendimento científico, pelo menos como os modernos o definiram, implica o que Hayek chama de “dualismo prático” da mente e da matéria — um dualismo que o próprio método objetivista nos impõe, mesmo que desejemos negar (como o próprio Hayek fez) que ele reflita qualquer divisão metafísica genuína entre os mundos mental e material.
Qualquer tentativa de redefinir a mente em termos “objetivistas”, caracterizando seus elementos em termos de relações estruturais quantificáveis — uma abordagem que o próprio Hayek esboçou em The Sensory Order — apenas abriria o mesmo problema novamente em um nível superior, já que quaisquer aspectos da mente que falham em se ajustar a essa redefinição objetivista simplesmente são levados a um domínio de segunda ordem de mera “aparência” (e ainda a outros níveis, se o método for aplicado ao domínio de segunda ordem). A tentativa do cientista de aplicar o método objetivista à própria mente humana implica, portanto, na visão de Hayek, uma regressão cruel, uma “perseguição metodológica da própria cauda” ao infinito. O resultado pode fornecer algumas ideias — Hayek considerou que sim — mas não pode esperar fornecer um entendimento completo.
A ironia é que a própria prática da ciência, que envolve a formulação de hipóteses, a ponderação de evidências, a invenção de conceitos e vocabulários técnicos, a construção de cadeias de raciocínio, etc — todas atividades mentais saturadas de significado e propósito — recai sobre o lado subjetivo, da “imagem manifesta” da divisão do cientificismo, em vez de sobre o lado “objetivo”, da “imagem científica”. O pensamento e a ação humanos, incluindo os pensamentos e as ações dos cientistas, são por sua natureza irredutíveis aos movimentos sem sentido e sem propósito de partículas e similares. Alguns pensadores comprometidos com o cientificismo percebem isso, mas concluem que a lição a tirar não é que o cientificismo esteja errado, mas que o pensamento e a ação humanos são ficções em si. De acordo com essa posição radical — conhecida como “materialismo eliminativo”, pois implica eliminar completamente o próprio conceito de mente, em vez de tentar reduzir a mente à matéria – o que é verdade para os seres humanos é apenas o que pode ser colocado no jargão técnico da física, química, neurociência e afins. Não existe “pensar”, “acreditar”, “desejar”, “significar”, etc; há apenas o disparo de neurônios, a secreção de hormônios, o espasmo dos músculos e outros eventos fisiológicos. Embora essa seja definitivamente uma posição minoritária, mesmo entre os materialistas, há quem reconheça que ela é a consequência inevitável de um cientificismo consistente, e a defenda com base nisso. Mas, como Hayek teria previsto, a própria tentativa de afirmar a posição necessariamente, mas de maneira incoerente, faz uso de conceitos — “ciência”, “racionalidade”, “evidência”, “verdade” e assim por diante — que pressupõem exatamente o que a posição nega, a saber, a realidade do significado e da mente.
Mas por que alguém se sentiria atraído por uma visão tão bizarra e confusa? A resposta — parafraseando uma observação feita por Ludwig Wittgenstein em outro contexto — é que “uma imagem nos mantém cativos”. Hipnotizados pelos sucessos preditivos e tecnológicos incomparáveis da ciência moderna, os intelectuais contemporâneos inferem que o cientificismo deve ser verdadeiro, de modo que tudo o que se segue dele — por mais fantástico ou aparentemente incoerente — também deve ser verdadeiro. Mas isso é puro sofisma. Se um certo método de estudar a natureza nos oferece um alto grau de poder preditivo e tecnológico, tudo o que isso mostra é que o método é útil para lidar com os aspectos da natureza que são previsíveis e controláveis. Isso não nos mostra que esses aspectos esgotam a natureza, que não há nada mais no mundo natural do que aquilo que o método revela. Tampouco mostra que não há meios racionais de investigar a realidade além daqueles que envolvem previsão e controle empíricos. Assumir o contrário é falaciosamente permitir que o método dite o que conta como realidade, em vez de permitir que a realidade determine quais métodos são apropriados para estudá-la. Se usar óculos de visão noturna infravermelha me permite perceber uma certa parte do mundo notavelmente bem, não se segue que não exista mais no mundo do que aquilo que posso perceber através dos óculos, ou que apenas métodos de investigação da realdade por óculos são racionais.
Que há realmente mais no mundo do que o cientificismo permitiria é evidente pelo que já foi dito. Mas é evidente também, mesmo a partir das alegações da própria ciência. Considere esta passagem de Bertrand Russell (outro pensador secularista, totalmente desprovido de simpatia pela religião):
“Nem sempre se percebe quão excessivamente abstrata é a informação que a física teórica tem para dar. Ela estabelece certas equações fundamentais que lhe permitem lidar com a estrutura lógica dos eventos, enquanto deixa completamente desconhecido qual é o caráter intrínseco dos eventos que possuem a estrutura. Nós só conhecemos o caráter intrínseco dos eventos quando eles acontecem conosco. Nada na física teórica nos permite dizer algo sobre o caráter intrínseco dos eventos em outros lugares. Eles podem ser exatamente como os eventos que acontecem conosco, ou podem ser totalmente diferentes de maneiras estritamente inimagináveis. Tudo o que a física nos dá são certas equações que dão propriedades abstratas de suas mudanças. Mas quanto ao que muda, e de onde e para onde muda — sobre isso, a física fica em silêncio.” (My Philosophical Development, p. 13)
Por “o caráter intrínseco dos eventos quando eles acontecem conosco”, o que Russell quer dizer é o mundo “subjetivo” das “aparências” que compõem nossa experiência consciente. Esse mundo — o mundo que a abordagem “objetivista” do cientificismo considera uma vergonha, e que o materialista eliminativo procura banir completamente — é o que sabemos mais profundamente para Russell. Em comparação, o conhecimento que a física nos fornece é tão “extremamente abstrato” — ou seja, a física vai tão longe na direção de abstrair dos objetos de suas pesquisas o que não se encaixa em seus métodos quantitativos — que deixa “completamente desconhecida” qual é realmente a natureza interna desses objetos além de suas propriedades matematicamente definíveis. E no entanto, como o mundo físico não é uma mera abstração — a própria física pressupõe que não é uma invenção da mente e que podemos conhecê-la através da percepção da realidade concreta — eles realmente devem possuir alguma natureza interior. Se quisermos saber o que é essa natureza interior, e também de mais coisas sobre as quais a ciência empírica é silenciosa, devemos ir além da ciência — para a filosofia, o verdadeiro “paradigma da racionalidade”, como diz John Kekes.
Mas pode a filosofia realmente nos dizer alguma coisa? Os filósofos não discordam notoriamente entre si? Mesmo que se reconheça que há mais no mundo do que a ciência nos diz, não podemos, no entanto, estar justificados em jogar as mãos para o alto e concluir que, seja lá o que for esse “mais”, ele é simplesmente incognoscível — que o cientificismo é uma atitude razoável a ser adotada na prática, mesmo que problemática na teoria?
O problema é que essa é, por si mesma, uma afirmação filosófica, sujeita a críticas filosóficas e exigindo argumentação filosófica em sua defesa. A própria tentativa de evitar a filosofia implica praticá-la. Como o filósofo e historiador da ciência E. A. Burtt afirmou em seu clássico The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science:
“Mesmo a tentativa de escapar da metafísica, tão logo colocada sob a forma de uma proposição, logo parece envolver postulados metafísicos altamente significativos. Por esse motivo, existe um perigo extremamente sutil e insidioso no positivismo [isto é, cientificismo]. Se você não pode evitar a metafísica, que tipo de metafísica você provavelmente apreciará quando se supõe firmemente que está livre da abominação? É claro que não é preciso dizer que, neste caso, sua metafísica será mantida acriticamente porque é inconsciente; além disso, será transmitida para outros com muito mais facilidade do que suas outras noções, na medida em que será propagada por insinuação e não por argumento direto… Agora, a história da mente revela claramente que o pensador que desaprova a metafísica… se é um homem engajado em qualquer investigação importante, deve ter um método e estará sob uma forte e constante tentação de transformar seu método em metafísica, isto é, supor que o universo seja de uma maneira que seu método deva ser apropriado e bem-sucedido… Mas, como a mente positivista falhou em absorver um cuidadoso pensamento metafísico, seus empreendimentos nesses momentos tendem a parecer lamentáveis, inadequados ou até fantásticos.” (pp. 228-29)
Nós não temos escolha a não nos engajar na filosofia. A única questão é se a faremos bem ou mal. Aqueles comprometidos com o cientificismo fingem não fazer nada, mas o que realmente têm feito é (como Burtt coloca) “criar uma metafísica a partir de seu método”. E como vimos, ela é realmente uma péssima metafísica. Somente aqueles que não evitam a filosofia — e especialmente aqueles que se envolvem nela sem pretender não fazê-lo — vão fazê-lo bem.
E quanto às divergências entre os filósofos? Muitos dos assim chamados “problemas tradicionais” da filosofia não são de fato mais antigos do que a revolução científica. Em particular, eles são uma consequência de uma tendência crescente ao longo dos últimos séculos de injustificadamente privilegiar o que Hayek chama de método “objetivista” da ciência empírica e de aplicá-lo a áreas nas quais é inadequado, como ética e análise do pensamento e ação humanos. Redefinir o mundo natural em termos exclusivamente objetivistas tem feito a afirmação de valores morais, livre-arbítrio e fenômenos irredutivelmente mentais parecer misteriosamente “dualista”. Negar a realidade dessas coisas parece levar ao niilismo e até à incoerência. A discordância na filosofia moderna é em grande parte um artefato desse impasse, pois os pensadores contestam exatamente qual versão desses dois extremos infelizes é a melhor — ou a menos ruim, de qualquer forma. Devedores como os intelectuais em geral são para com o espírito cientificista da época, poucos pensam em questionar as suposições que levaram ao impasse em primeiro lugar. Longe de ser um ponto a favor do cientificismo, a discordância que atormenta a filosofia contemporânea é em grande parte uma consequência do cientificismo, ou pelo menos de um viés metodológico que o cientificismo elevou ao nível de uma ideologia.
O que acontece quando rejeitamos esse viés? A resposta certa, na minha opinião, é um retorno à sabedoria filosófica dos antigos e medievais. Sua física, como Galileu, Newton, Einstein e outros nos mostraram, estava severamente carente. Mas sua metafísica nunca foi superada. E embora eles certamente tenham divergências, há um núcleo comum na tradição que fundaram — uma tradição que se estende de Platão e Aristóteles ao Alto Escolasticismo de Aquino e até seus descendentes hoje em dia — que os diferencia dos sistemas filosóficos decadentes dos modernos. Esse núcleo constitui uma “filosofia perene” à parte da qual a harmonia do senso comum e da ciência, e até mesmo a coerência da própria ciência, não podem ser compreendidas. E é também nessa filosofia perene que se encontram os fundamentos racionais da teologia e da ética.
Isso, desnecessário dizer, é uma longa história — uma história que contei em A Última Superstição: Uma refutação do Neoateísmo e Aquinas. Mas o que foi dito aqui deve ser suficiente para mostrar que são apenas aqueles que sabem algo sobre filosofia e sua história, e que se engajam seriamente com suas questões, que conquistaram o direito de se pronunciar sobre as credenciais racionais da teologia e da moralidade tradicional. E isso definitivamente não inclui os cegos pelo cientificismo.
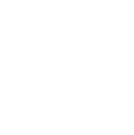











Comentários
Não há comentários nessa publicação.