Scientism in the Arts and Humanities
À medida em que as universidades se expandiam no século XX e as ciências exatas (física, química, matemática, bioquímica, etc) se retiravam para as margens de um sistema educacional cada vez mais relutante em cobrar de seus alunos, as ciências humanas começavam a se tonar o centro do currículo. A primeira delas foi o Inglês, uma matéria que estabeleceu seu lugar como um diploma universitário na Grã-Bretanha somente em meados daquele século, em grande parte, como resultado da tentativa infrutífera de I.A. Richards de tratar o estudo da literatura como um ramo da psicologia empírica. A história da arte surgiu junto ao inglês, trazendo consigo a abordagem histórica hegeliana que se desenvolveu nas universidades alemãs. A crescente proeminência da filosofia (ainda considerada um ramo das “ciências morais” nos meus dias de graduação em Cambridge) lançou as bases para a contínua expansão do currículo em áreas bem diversas, como civilização clássica, cinema e criação literária. A expansão simultânea das ciências sociais para abarcar a antropologia (acoplada à arqueologia na Cambridge da minha juventude), a sociologia, a economia, a ciência política e a teoria da educação, significava que muitas das novas áreas de estudo espremiam-se entre as artes e as ciências, requerendo de ambas extensivos empréstimos. Tomemos os estudos midiáticos: era um ramo da sociologia ou uma subseção da crítica literária? Durante as décadas de 1960 e 1970, desenvolveu-se rapidamente o hábito de juntar disciplinas das ciências sociais e humanas para produzir “estudos” que apelariam ao ingresso cada vez mais desqualificado de estudantes, transmitindo com isso uma imagem espúria — e altamente politizada — de relevância.
Na atual universidade, parece que, fora das ciências naturais, praticamente tudo é válido, e as ciências humanas não possuem método ou qualquer estrutura de conhecimento adquirido, cabendo ao professor decidir o que ensinar em suas aulas. As tentativas esporádicas de estabelecer um cânone de grandes obras são facilmente derrubadas, enquanto as revistas se enchem de artigos dedicados àquilo que Jean Bricmont e Alan Sokal castigaram como “absurdos da moda”.
Um problema adicional decorre do crescimento dos cursos de pós-graduação em ciências humanas e sociais. Os departamentos universitários e as pessoas que nele ensinam são cada vez mais avaliados — incentivando tanto o status como o financiamento — em sua produção de “pesquisa”. O uso desta palavra para descrever o que antes fora chamado de “bolsa de estudos”, sugere, naturalmente, uma afinidade entre ciências humanas e naturais, implicando que ambas estão empenhadas em “descobrir coisas”, sejam fatos ou teorias, para ser adicionadas ao repositório do conhecimento humano. Pressionadas a justificar sua existência, as ciências humanas começam, então, a buscar nas ciências naturais “métodos de pesquisa” e uma promessa de “resultados”. Sugerir que a principal preocupação das ciências humanas é a transmissão da “cultura” — como fizeram os seguidores do poeta e crítico do século XIX Matthew Arnold — seria condená-las ao status de segunda classe. Se tudo que as ciências humanas tivessem para oferecer fosse “cultura”, então dificilmente poderiam reivindicar a mesma parte nos cofres públicos que reivindicam as ciências naturais, constantemente rentáveis ao mercado do conhecimento. A cultura não possui método, enquanto a pesquisa se desenvolve por conjecturas e evidências. Cultura significa o passado, pesquisa significa o futuro.
Ademais, se a justificativa das ciências humanas encontrasse fundamento apenas na “cultura” que transmitem, acabariam vulneráveis à desconstrução. Poderia apelar-se a qualquer número de teorias — a teoria marxista da “ideologia”, ou qualquer descendente feminista, pós-estruturalista ou Foucaultiana — para atestar a visão de que as realizações preciosas de nossa cultura devem seu status somente ao poder que fala através delas e, portanto, não possuem valor intrínseco. Com efeito, toda a ideia da cultura como esfera autônoma do conhecimento moral, que requer aprendizado, erudição e imersão para aprimorar e reter, é lançada aos ventos. Nesta visão, em vez de transmitir cultura, a universidade existe para desconstruí-la, para remover sua aura. O objetivo da universidade é deixar o aluno, depois de três ou quatro anos de dissipação ansiosa, com a visão de que tudo é válido e nada importa.
Invadindo as Ciências Humanas
Essa transformação das ciências humanas em uma força anticultural parece estar consolidada no presente — ou bem perto. Podemos observar mais e mais tentativas de corrigir as dificuldades das ciências humanas, assimilando seu objeto a uma ou outra ciência.
Considere, por exemplo, a História da Arte. Gerações de estudantes foram atraídas para esta matéria na esperança de adquirir conhecimento das obras do passado. A história da arte desenvolveu-se nas universidades alemãs do século XIX, sob influência dos historiadores suíços Jacob Burkhardt, Heinrich Wölfflin e outros, para se tornar um paradigma de estudo objetivo nas ciências humanas. A teoria hegeliana do Zeitgeist, usada com astúcia por Wölfflin, dividira tudo em períodos perfeitamente circunscritos: Renascimento, Barroco, Rococó, Neoclássico e assim por diante. O método “comparativo”, em que as imagens eram mostradas lado a lado e suas diferenças atribuídas aos esquemas mentais distintivos de seus criadores, provou ser infinitamente fértil em julgamentos críticos. Olhe para as obras de Wittkower, Panofsky, Gombrich e os outros produtos desta escola de pensamento, muitos que se salvaram da destruição nazista das universidades alemãs, e você certamente concluirá que nunca houve algo mais criativo e valioso para o currículo nos tempos modernos.
No entanto, os estudiosos não estão satisfeitos. Ainda há alguma “pesquisa” a ser feita sobre a arte de Michelângelo ou a arquitetura de Palladio? Há mais alguma coisa para ser adicionada ao estudo da catedral gótica depois de Ruskin, von Simson, Pevsner e Sedlmayr? E como enfrentamos as queixas de que todos esses assuntos parecem estar concentrados em uma faixa estreita de homens brancos europeus mortos, que falaram claramente para os seus tempos, mas não possuem relevância para o nosso? Em suma, o objeto da história da arte foi condenado por seu próprio sucesso a um canto da academia escasso de recursos e pós-graduandos — a menos que ofereça novos campos de “pesquisa”.
Problemas semelhantes perturbaram a musicologia e os estudos literários, e em cada caso surgiu a tentação de buscar algum ramo das ciências naturais que pudesse ser aplicado aos seus objetos, resgatando-os de sua esterilidade sem métodos. Duas ciências em particular parecem encaixar-se perfeitamente no perfil: a psicologia evolutiva e a neurociência. Ambas são ciências da mente, e sendo a cultura uma arena mental, ambas deveriam ser capazes de dar a ela um sentido. A psicologia evolutiva trata os estados mentais como adaptações, e os explica a partir das vantagens reprodutivas que conferiram aos nossos antepassados; a neurociência trata os estados mentais como aspectos do sistema nervoso e os explica a partir de sua função cognitiva.
Ao longo das últimas décadas, testemunhamos, portanto, uma invasão permanente das ciências humanas pela metodologia científica. Essa invasão nos fornece uma perfeita ilustração da diferença entre os modos de pensar científico e cientificista. O pensador científico possui uma pergunta clara, um conjunto de dados e uma resposta teórica à pergunta, que poderá ser testada contra esses dados. O pensador cientificista aluga o aparelho da ciência, não para explicar o fenômeno diante dele, mas para criar a aparência de uma questão científica, a aparência de dados e a aparência de um método que chegará a uma resposta.
O estruturalismo na crítica literária, suscitado por Roland Barthes em seu livro “S / Z” (1970), era cientificista nesse sentido. Levantava questões que tinham a aparência de ciência e abordoava teorias que não podiam ser refutadas, porque incapazes de fazer previsões. A análise de Barthes do conto “Sarrasine”, de Balzac, abusando dos tecnicismos da linguística saussuriana, criou uma certa agitação em seu tempo, sendo imediatamente aceita por críticos literários sedentos de um “método” que produzisse resultados. Os resultados nunca apareceram, e esse episódio particular agora resta praticamente esquecido.
Um caso semelhante pode ser encontrado hoje na nova “ciência” da “neuroestética”, introduzida e sustentada por V.S. Ramachandran, Semir Zeki e William Hirstein, a qual promete produzir sua própria revista, já dispondo de uma crescente pilha de publicações dedicadas aos seus resultados. O historiador da arte John Onians seguiu esse exemplo, tentando reformular sua disciplina como a ciência da “neuro-história da arte” (conforme o título do seu livro, Neuroarthistory, 2008).
Filósofos e críticos ao longo dos séculos questionaram-se acerca do significado da arte, por que ela é tão especial e por que nos afeta como nos afeta. Suas especulações foram sutis, complexas e atentas a todos os aspectos do significado humano do assunto — o que a obra de arte significa para nós, que a interpretamos e a levamos ao coração. Esse significado humano é um fenômeno cultural — o tipo de objeto que as ciências humanas surgiram para estudar. E então, o primeiro passo de Ramachandran e Hirstein, no artigo de 1999 em que expuseram sua teoria, foi apresentar a arte já vestida com a ciência que a ela propõem aplicar:
O propósito da arte, certamente, não é apenas descrever ou representar a realidade — pois isso pode ser facilmente realizado por uma câmera — mas aprimorar, transcender ou mesmo distorcer a realidade… O que o artista tenta fazer (consciente ou inconscientemente) é, além de capturar a essência de algo, ampliá-la de modo a ativar mais potencialmente os mesmos mecanismos neurais que seriam ativados pelo objeto original.
Reduzindo, desta forma, o efeito da arte a uma distorção perceptiva, e deslumbrado o leitor com a referência aos “mecanismos neurais”, Ramachandran e Hirstein invocam um princípio psicológico — o efeito “deslocamento de pico”, pelo qual um animal que aprendeu a responder a um estímulo responde mais fortemente a um excesso desse estímulo — para dar uma explicação genérica sobre “o que realmente é a arte”. A confusão resultante de teorias juntadas, sintetizadas e mal aplicadas foi explorada e ampliada pelo professor britânico de filosofia e estética John Hyman. Em seu artigo “Arte e Neurociências” (2010), Hyman mostra como os neuroesteticistas entendem mal o efeito da mudança de pico sendo lamentavelmente ignorantes sobre arte, e como suas teorias não têm nada absolutamente para dizer sobre arte distinta da não-arte. Para os nossos propósitos, vale a pena observar também a maneira como a ciência invade a descrição de Ramachandran sobre o assunto. Em vez de uma tentativa cuidadosa e criteriosa de definir um problema, o que vemos é uma descrição superficial de alguns fenômenos artísticos, uma referência injustificada a uma explicação (“mecanismos neurais”) e uma antecipação do resultado da sua aplicação. Este é o claro sinal do cientificismo — a ciência precede a pergunta e é usada para redefini-la sob a forma de uma pergunta que a ciência pode resolver. Mas a dificuldade de entender a arte surge, precisamente, porque questões sobre a natureza e o significado da arte não estão pedindo uma explicação, mas uma descrição.
Ciência e Subjetividade
Por que deveriam existir tais perguntas, e por que elas estão fora do alcance das ciências empíricas? A resposta simples é que são questões que lidam com o “espírito”, com o Geist e, portanto, com fenômenos que estão fora do alcance dos métodos experimentais. Mas esta não é uma resposta capaz de satisfazer as pessoas hoje em dia; falar dessa maneira é capaz de provocar um sorriso irônico e cético. O “espírito” desapareceu com a demolição, em Kant, da teoria cartesiana da subjetividade. Ou se não desapareceu, como poderia, então, ter sobrevivido aos avanços na ciência cognitiva, na genética e na psicologia evolutiva, que aboliram as ilusões através das quais a religião governava o nosso mundo? Tudo o que Ramachandran e seus companheiros estão fazendo, pode-se dizer, é substituir a vaga linguagem em que a disputa entre a ciência e os Geisteswissenschaften — (estudos do espírito e da mente, em alguns aspectos, um termo mais útil do que o nosso “artes liberais”) foi originalmente formulada por algo mais adequado à visão moderna do que somos. O problema é que não existe uma “visão moderna do que somos”, principalmente, porque não estamos convictos da relação entre “nós” e “eu” e do lugar do indivíduo autoconsciente na ciência das espécies.
Como sujeito consciente, tenho um ponto de vista sobre o mundo. O mundo parece uma coisa para mim, e essa “aparência” define minha perspectiva exclusiva. Todo ser autoconsciente possui essa perspectiva; é o que significa ser um sujeito e não um objeto. Mas quando eu explico cientificamente o mundo, estou descrevendo apenas objetos. Estou descrevendo o modo como as coisas são, e as leis causais que explicam o modo como elas são. Essa descrição não parte de uma perspectiva particular. Não contém palavras como “aqui”, “agora” e “eu”; e, embora sirva para explicar o modo como as coisas aparentam ser, o faz oferecendo uma teoria de como elas são. Em suma, o sujeito é, em princípio, inobservável para a ciência — não porque existe em outro domínio, mas porque não faz parte do mundo empírico. Está à margem das coisas, como um horizonte, e jamais pode ser entendido “do outro lado”, o lado da própria subjetividade.
O sujeito é uma parte real do mundo real? Em determinado sentido, não. Pois, se eu procurá-lo no mundo dos objetos, jamais o encontrarei. No entanto, sem minha natureza como sujeito, nada para mim é real. Se eu devo cuidar do meu mundo, primeiro devo cuidar do meu sujeito, sem o qual não possuo perspectiva para enxergar o mundo, e não tenho, portanto, um mundo. Essa atenção ao sujeito é o propósito da arte, ou pelo menos da arte que importa. E esta é uma das razões pelas quais as ciências humanas que têm a arte e a cultura como objeto jamais serão redutíveis às ciências naturais.
Compreendemos os outros através das atitudes que Martin Buber resumiu como relações entre Ich e Du (eu e você), mas que seriam, talvez, melhores descritas como relações entre "eu" e "eu". Nós vemos um ao outro de "eu" para "eu", e a partir desta relação emergem todos os julgamentos, toda responsabilidade, toda vergonha, orgulho e plenitude. Esse fato importante sobre a condição humana pode ser resumido na palavra que nos é legada pelo direito romano e assumida por Boécio e Aquino: “pessoa”. Somos pessoas, e a personalidade é da nossa essência.
Fluindo da personalidade, há conceitos que desempenham um papel organizador em nossa experiência — conceitos como ornamento, melodia, dever e liberdade — , mas não pertencem a nenhuma teoria científica porque dividem o mundo de uma maneira que nenhuma ciência natural poderia admitir. A ciência nos diz muito sobre as sequências ordenadas de sons agitados; porém não nos diz nada sobre melodias. Uma melodia não é um objeto acústico, mas um objeto musical. E os objetos musicais pertencem ao domínio puramente intencional: são sobre algo mais; estão imbuídos de significado; são sons que nós, conscientes de nós mesmos, vivenciamos e nos relacionamos. O conceito de pessoa é como o conceito de melodia. Ele mostra a nossa maneira de perceber e nos relacionar uns com os outros, mas não nos “transporta” para a ciência do que somos. O fato de que a pessoa não se transporta para a ciência não significa que não existam pessoas, mas apenas que uma teoria científica das pessoas irá classificá-las com outras coisas — por exemplo, com primatas ou outros mamíferos.
Em outras palavras, o tipo de coisa que somos é definido através de um conceito que não existe na ciência da nossa natureza. A ciência nos vê como objetos, não como sujeitos, e suas descrições das nossas reações não são descrições do que sentimos. Quando nos referimos à alma, geralmente não nos referimos a uma substância cartesiana qualquer flutuando no interior de lugar nenhum. Referimos-nos ao princípio organizador da consciência da primeira pessoa: as capacidades de auto-atribuição, autoconhecimento e resposta inter-subjetiva que parecem distinguir a nossa espécie de todas as outras, tornando a vida de uma pessoa em algo que vale a pena. Esse princípio organizador é o que Aristóteles e Aquino quiseram dizer descrevendo a alma como a forma e o corpo como a matéria do ser humano; tudo que acrescentei foi para definir a forma nos termos da organização exibida pela primeira pessoa do singular, ou seja, em termos de pessoa.
Nosso comportamento um para com o outro baseia-se na crença na liberdade, na individualidade, sabendo que eu sou eu e você é você, e que cada um de nós é um centro de pensamento e de ação livre e responsável. A partir dessas crenças, surge todo o mundo das respostas interpessoais, e é das relações estabelecidas entre nós que deriva nossa própria auto-concepção. Parece que temos uma necessidade existencial de esclarecer os conceitos do eu, da livre escolha, da responsabilidade e de tudo o mais, se quisermos ter uma concepção clara do que somos, e que nenhuma pilha de neurociências nos ajudará a esclarecer. Vivemos na superfície e o que importa para nós não é o sistema nervoso invisível que explica como as pessoas funcionam, mas as aparências visíveis às quais respondemos quando respondemos às pessoas como pessoas. São essas aparências que nós interpretamos; e é sobre essas interpretações que elaboramos respostas, as quais, por sua vez, serão interpretadas, e assim por diante. Porque a cultura é construída sobre essas relações interpessoais e intersubjetivas, que constituem um domínio distinto da investigação humana, o qual não pode ser substituído por uma ciência natural.
Do que tratam as pinturas
Isso nos leva novamente à história da arte e ao estudo das imagens. O que são imagens — cientificamente falando, em contraste com o que elas significam? É bem óbvio que a famosa pintura “Vênus de Urbino” (1538) de Ticiano consiste em uma tela na qual se distribuem pigmentos (veja abaixo). Podemos descrever esta distribuição usando coordenadas geométricas em espaço bidimensional e, portanto, pixelizar o retrato de Ticiano em uma fórmula digital que permite que uma máquina o reproduza. Esta fórmula não menciona a mulher, o servo ou os olhos que desafiam e a mão que se esconde. No entanto, contém todas as informações necessárias para produzir a imagem em que estas coisas são vistas para alguém capaz de entender pinturas. Poderíamos imaginar animais que são treinados para reconhecer a distribuição de pixels e responder seletivamente a todas as diferenças entre padrões de pigmentos que enxergamos como imagens, mas não podem enxergar imagens. E, claro, estamos familiarizados com os programas digitais que gravam, transmitem e mostram imagens pixeladas em máquinas que não veem nada.
A resposta normal a esse tipo de exemplo é dizer que as imagens pictóricas são características emergentes dos objetos físicos em que estão contidos. O retrato da jovem senhora de Urbino não é algo além ou aquém da superfície colorida em que a vemos, mas tampouco é redutível a essa superfície: embora a distribuição correta de pigmentos coloridos possa produzir a imagem, no que ela consiste é um aspecto da pintura que emerge para aqueles dotados dos poderes imaginativos necessários para percebê-lo.
Com efeito, alguém pode muito bem ser um especialista na produção de cópias da Vênus de Urbino, embora seja cego para o seu objeto, vendo-a apenas como uma distribuição de pigmentos em uma tela.
É certo que há muito a dizer sobre a pintura de Ticiano em termos de disposição de pigmentos em uma matriz bidimensional. Mas isso não seria uma interpretação da pintura e não nos informaria sobre sua importância ou valor. Pois não mencionaria o fato mais importante sobre a pintura, sobre o que ela trata. A palavra “sobre” é notória: é a mesma palavra que causa todas essas dificuldades na compreensão dos estados mentais que um dia foram pensados para apresentar um obstáculo imobilizador a qualquer análise física sutil sobre a mente. As pinturas possuem intencionalidade, assim como crenças e desejos. E elas podem ser comparadas não apenas com outras pinturas, mas com obras de literatura e música. É uma questão de interpretação se a pintura de Ticiano deve ser entendida como a expressão de uma sexualidade doméstica e nupcial, ou se a jovem deve ser vista mais como uma cortesã do que como uma esposa. Pode-se comparar a pintura com outra que se refere explicitamente a Ticiano, a famosa “Olympia” de Manet (1863, veja abaixo), na qual o grosseiro comércio de Boulevard é posto em uma relação irônica com os abraços suaves da Veneza Renascentista.
 A interpretação começa aqui em juízo comparativo, e é difícil ver em que a neurociência poderia contribuir para o resultado. As imagens são entendidas encontrado seu significado, avaliando o lugar desse significado na vida do observador e o que ele transmite sobre a condição humana. É provável que você capture informações sobre a pintura de Manet se você colocá-la lado a lado com dois romances: Sappho de Daudet (1884) e Nana de Zola (1880). Você entende melhor o que Manet está dizendo se puder enxergar o mundo de Ticiano, ironicamente refletido nas formas e adereços que cercam esta complexa boulevardienne.
A interpretação começa aqui em juízo comparativo, e é difícil ver em que a neurociência poderia contribuir para o resultado. As imagens são entendidas encontrado seu significado, avaliando o lugar desse significado na vida do observador e o que ele transmite sobre a condição humana. É provável que você capture informações sobre a pintura de Manet se você colocá-la lado a lado com dois romances: Sappho de Daudet (1884) e Nana de Zola (1880). Você entende melhor o que Manet está dizendo se puder enxergar o mundo de Ticiano, ironicamente refletido nas formas e adereços que cercam esta complexa boulevardienne.
Os críticos de arte possuem uma disciplina, que envolve raciocínio e julgamento. Não é uma ciência, e aquilo que descreve não faz parte do mundo físico, o qual não constitui Olympia e nada que você observa na pintura de Manet. Todavia, pensar que a crítica da arte é, portanto, deficiente, devendo ser substituída pelo estudo dos pigmentos, é certamente perder o ponto. Há formas de compreensão humana que não podem ser reduzidas à ciência, nem melhoradas por ela.
Aqui é onde entram os neuromalandros para declarar que, é claro, a ciência dos pixels não explica imagens, uma vez que as imagens estão no olho do observador. Mas há também algo como a FMRI do observador, e é nisso que está o segredo da imagem no quadro. Uma vez que a compreensão de uma imagem é uma questão de vê-la de uma certa maneira — de modo a entender seu aspecto visual e o significado que esse aspecto possui para seres como nós — , devemos, então, estar examinando os caminhos neurais envolvidos na visão de aspectos, e as conexões que ligam essas vias a juízos de significado.
Mas o que, exatamente, esse estudo deveria mostrar? Suponhamos que conseguimos uma decifração perfeita dos caminhos envolvidos ao ver um aspecto e ao estabilizá-lo na mente do observador. Isso não é um julgamento crítico e, embora possa nos permitir prever que o observador normal, ao confrontar o quadro de Ticiano, verá uma mulher nua deitada em um sofá e olhando para ele, não responderá ao crítico que diz: sim, mas isso não é tudo o que há, e, de fato, você deve observar que essa mulher não está nua, mas sim despida, que seu corpo, como Anne Hollander demonstra de forma tão convincente em Seeing Through Clothes, possui a textura e o movimento das roupas que ela removeu e que esses olhos não olham para você, mas olham através de você, sonhando com alguém que você não é. Os críticos não nos contam como nós, com nossos olhos, vemos as coisas, mas como devemos vê-las, e a sua descrição do significado de uma imagem também é uma recomendação, que obedecemos ao fazermos uma escolha livre da nossa própria escolha. A neurociência, deste modo, permanece apenas uma ciência: não pode ascender ao nível de compreensão intencional, onde o significado é criado através dos nossos próprios atos voluntários. Por isso, não devemos nos surpreender com a tristeza dos neuroestéticos e sua incapacidade de lançar luz sobre a natureza ou o significado das obras de arte.
Assim como há uma compreensão da arte, que forma o domínio da crítica e que é um exercício racional com seus próprios padrões de validade, há também uma compreensão das pessoas, que forma o domínio das relações interpessoais, e que é um exercício racional obediente às próprias normas. E assim como é um erro pensar que você pode substituir a crítica de arte pela neurociência que supostamente explica a experiência da arte, também é um erro pensar que você pode substituir o entendimento interpessoal pela neurociência que alega explicar nossos comportamentos. Essa troca exige descrever o comportamento humano em termos que o eliminem do contexto que lhe dá sentido; exige que se torne um reducionista, alguém que não consegue perceber que as características mais importantes da condição humana são características emergentes, aquelas que habitam a superfície do mundo e são invisíveis para aqueles cujos olhos estão fixados nas profundezas.
A Ilusão Memética
As culturas humanas são reflexões "sobre" e "na" superfície da vida, formas pelas quais entendemos o mundo das pessoas e o quadro moral dentro do qual as pessoas vivem. Mas esta louvável ideia de cultura, nas últimas décadas, sofreu outro ataque cientificista, desta vez de Richard Dawkins e seu conceito de “meme”, explicado inicialmente em O Gene Egoísta (1976). A seleção natural pode explicar todos os fatos complexos apresentados pela cultura humana, sugere Dawkins, uma vez que enxergamos a cultura como algo evoluindo de acordo com os mesmos princípios darwinianos que impulsionam a evolução biológica. Assim como qualquer organismo é uma “máquina de sobrevivência” que existe para servir genes autorreplicantes, os seres humanos são também “máquinas de sobrevivência” para “memes” autorreplicantes — entidades mentais que utilizam as energias dos cérebros humanos para se multiplicar, do mesmo modo que os vírus utilizam a energia das células. Como os genes, os memes precisam de um lugar para habitar, e seu sucesso depende de encontrar o nicho ecológico que lhes permite gerar mais espécimes de seu tipo. Esse nicho é o cérebro humano.
Um meme é uma entidade cultural autorreplicante que, hospedado no cérebro de um ser humano, usa esse cérebro para se reproduzir — exatamente como uma melodia cativante se reproduz em zumbidos e assobios, espalhando-se como uma epidemia através de uma comunidade humana, como “La donna è mobile” pela manhã, após a primeira apresentação do Rigoletto de Verdi. Dawkins argumenta que ideias, crenças e atitudes são as formas conscientes tomadas por essas entidades que se autorreplicam, que se propagam como as doenças se propagam, usando as energias de seus anfitriões: “Assim como os genes se propagam no pool de genes saltando de corpo em corpo através de esperma ou de óvulos, os memes se propagam no pool de memes pulando do cérebro em cérebro através de um processo que, em sentido amplo, pode ser chamado de imitação”. Daniel Dennett, em livros como Freedom Evolves (2003) e Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (2006), acrescenta que esse processo pode ser prejudicial ou benéfico para o hospedeiro — parasítico ou simbiótico.
A teoria do “meme” ameaça desconsiderar todo o reino da alta cultura, fazendo da cultura uma coisa que sobrevive no cérebro humano por meio de seus próprios esforços, por assim dizer, e que não possui mais significado intrínseco que qualquer outra rede de adaptações. Para tornar a teoria remotamente plausível, no entanto, Dawkins deve distinguir os memes que pertencem à ciência dos memes dos que são meramente “culturais”. Os memes científicos estão sujeitos a um policiamento efetivo pelos cérebros que os abrigam, que aceita ideias e teorias apenas como parte do próprio método científico baseado na verdade. Os memes meramente culturais estão fora do alcance da inferência científica e podem desencadear um motim, causando todos os tipos de distúrbios cognitivos e emocionais. Não estão sujeitos a nenhuma disciplina externa, como a contida no conceito de “verdade”, mas seguem seu próprio caminho reprodutivo, indiferentes aos objetivos do organismo que invadiram.
A ideia do meme é apelativa ao nível da metáfora, mas o que ela significa de fato? Do ponto de vista da memética, as ideias absurdas têm a mesma origem das teorias verdadeiras, e o assentimento é uma honra regressa concedida ao mérito. A única distinção significante a ser feita, ao contabilizar esse sucesso, é entre memes que melhoram a vida de seus anfitriões, e memes que destroem essa vida ou coexistem de maneira consistente com ela.
Uma das características distintivas dos seres humanos, no entanto, é que eles podem distinguir um conceito da realidade que o descreve, podem entreter proposições as quais recusam o seu consentimento, podendo, assim, mover-se como juizes no campo das ideias, intimando cada uma ao tribunal do argumento racional, aceitando-as e rejeitando-as independentemente do custo reprodutivo. E não é apenas na ciência que essa atitude de reflexão crítica é mantida. Matthew Arnold, em sua coleção clássica de ensaios Cultura e Anarquia (1869), descreveu a cultura como “uma busca de nossa perfeição plena por meio do conhecimento sobre todos os assuntos que mais nos interessam, sobre o melhor que já fora pensado e dito no mundo, transformando, através desses conhecimentos, o fluxo do pensamento recém-preparado em nossos hábitos e noções”.
Como tantas pessoas casadas com uma visão novecentista da ciência, que prometeu explicações científicas para os fenômenos sociais e culturais, Dawkins negligencia a reação do século XIX que dizia: espere um minuto; a ciência não é a única maneira de buscar o conhecimento. Existe também um conhecimento moral, que é o domínio da razão prática; existe um conhecimento emocional, que é o domínio da arte, literatura e música. E possivelmente existe um conhecimento transcendental, que é o domínio da religião. Por que privilegiar a ciência, só porque ela se propõe a explicar o mundo? Por que não dar peso às disciplinas que interpretam o mundo, e assim nos ajudam a estar em casa?
Essa reação não perdeu nenhuma força. E aponta para uma fraqueza fundamental na “memética”. Mesmo que existam unidades de informação memética propagadas de cérebro em cérebro, não são essas unidades que se aproximam da mente no pensamento consciente. Memes representam ideias na medida que os genes representam os organismos: se eles existem de alguma forma (e nem Dawkins e nem qualquer outro deu evidência de que existem), a sua reprodução incessante e sem propósito não interessa à cultura. As ideias, em contrapartida, fazem parte da rede consciente do pensamento crítico. Nós as avaliamos por sua verdade, sua validade, sua propriedade moral, sua elegância, plenitude e charme. Nós as aceitamos e as descartamos, às vezes no curso da nossa busca por verdade e explicação, e outras na nossa busca por significado e valor. E ambas as atividades são essenciais para nós. Embora a cultura não seja ciência, é também uma atividade consciente da mente crítica. A cultura — tanto a alta cultura da arte como a da música, e a cultura mais ampla incorporada em uma tradição moral e religiosa — classifica as ideias por suas qualidades intrínsecas, ajudando-nos a nos sentir em casa no mundo e a ressoar seu significado pessoal.
É verdade que a teoria do meme não nega o papel da cultura nem prejudica a visão do século XIX de que a cultura bem compreendida é tanto uma atividade da mente racional quanto a ciência. Mas o conceito do meme pertence a outros conceitos subversivos — a “ideologia” de Marx, o inconsciente de Freud, o “discurso” de Foucault — no sentido de desacreditar o preconceito comum. Procura expor ilusões e explicar nossos sonhos. Mas o meme é ele mesmo um sonho, uma ideologia, aceito não pela sua verdade, mas pelo poder ilusório que confere àquele que com ele conjura. Produziu alguns argumentos interessantes, não menos interessantes que os pensados por Daniel Dennett em “Breaking the Spell”, em que ele explica a religião como um meme particularmente bem sucedido, mas perigoso.
Contudo, a memética nos mostra a própria ferida da qual pretende ser o remédio: é um feitiço com o qual a mentalidade científica procura esconjurar aquilo que representa uma ameaça para ela — e é como devemos enxergar o cientificismo em geral. O cientificismo envolve o uso de formas e categorias científicas para dar a aparência de ciência a modos de pensamento não científicos. É uma forma de magia, uma forma de reformar a matéria complexa da vida humana, sob o comando do mago, em uma forma sobre a qual ele possa exercer o controle. É uma tentativa de subjugar o que não se entende.
Certamente os seres humanos podem fazer melhor que isso — pela busca de uma verdadeira explicação científica, por um lado, e pelo estudo da alta cultura, por outro. Uma cultura não inclui apenas obras de arte, nem é dirigida unicamente a interesses estéticos. É a esfera de artefatos intrinsecamente interessantes, ligados pela faculdade de julgamento às nossas aspirações e ideais. Apreciamos obras de arte, argumentos, obras de história e literatura, modos, roupas, piadas e formas de comportamento. E todas essas coisas são moldadas através do julgamento. Mas que tipo de julgamento e para o quê esse julgamento conduz?
Creio que a cultura, nesse sentido, que decorre da perspectiva do “eu”, que é a raiz da condição humana, aponta sempre para o transcendental — o ponto na borda do espaço e do tempo, que é a subjetividade do mundo. E quando perdemos nosso sentido desse ponto, e da sua eterna, serena vigilância, toda a vida humana é lançada nas sombras. Aproximamos-nos do ponto em que até mesmo a Paixão de São Mateus e a Pietá de Rondanini não têm nada mais significante para dizer do que um tubarão em formol.[1] Essa é a direção que tomamos. Mas é uma direção à deriva, uma recusa em adotar a postura que é inerente à condição humana, pela qual nos esforçamos para ver os eventos externos como eles são aos olhos de Deus.
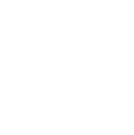











Comentários
Não há comentários nessa publicação.