Vigiar e punir: nascimento da prisão
Michel Foucault é um dos autores que compõem o cânone obrigatório da academia brasileira. Junto com Deleuze, Guatarri, Lacan, Derrida, Marcuse, Habermas e outra plêiade de pós-modernos, estruturalistas, pós-estruturalistas e frankfurtianos, Foucault é dos philosophes mais citados em teses acadêmicas e reverenciados nos meios universitários do Brasil.
A obra cuja crítica recensória ora se empreende é uma das facetas de uma tese filosófica mais ampla. O estudo da evolução da pena da época clássica à época burguesa – para usar a terminologia do autor – está inserta em um empreendimento generalizante que pretende demonstrar a onipresença das chamadas “relações de poder”.
Assim, desde obras como “As palavras e as coisas”, “Arqueologia do Saber” e “História da Loucura”, Foucault buscará – através de farta documentação – corroborar com a tese da implicação recíproca entre saber e poder. Assim, para Foucault, “não há relação de poder sem a constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder” (FOUCAULT, 1987, pág.27).
Como explicitam Hubert Dreyfus e Paul Rabinow no livro “Michel Foucault, uma trajetória filosófica para além do estruturalismo e da hermenêutica”:
(…) estas relações de poder-saber não devem então ser analisadas a partir de um sujeito de conhecimento que seria livre ou não relativamente ao sistema de poder; devemos considerar, pelo contrário, que o sujeito que conhece, os objetos a conhecer e as modalidades de conhecimento são efeitos dessas implicações fundamentais do poder-saber e das suas transformações históricas. Em suma não é a atividade do sujeito que produz um saber, útil ou oposto ao poder, mas sim o poder-saber, os processos e as lutas que o atravessam e de que é constituído que determinam as formas e os domínios possíveis do conhecimento. (DREYFUS e RABINOW, 1983, pág. 35).
Dessa forma, Foucault rompe com o paradigma moderno kantiano segundo o qual o sujeito cognoscente emancipar-se-ia através do conhecimento, “ousando pensar”. Para Foucault, não há saber que não esteja implicado por uma relação de poder, assim como não há relação de poder que não produza um saber.
É nesta toada que Foucault vai traçar a história dos mecanismos punitivos, da loucura e da psiquiatria e também da sexualidade (esta última incompleta) como demonstrações eloquentes de que há uma “microfísica do poder” presente em toda parte e que determina o que se diz ser conhecimento.
Feita esta contextualização inicial de Vigiar e Punir dentro do empreendimento filosófico foucauldiano, podemos considerá-lo como parte do todo que é, facilitando sua compreensão. Vigiar e Punir deve ser lido sob a perspectiva de que cada episteme é a escrava de algum poder, e tem, principalmente, a função de criar uma 'verdade' útil e submissa a algum interesse desse poder. Essa perspectiva é constante em toda a obra de Foucault.
A obra em comento é dividida em quatro partes: Suplício, Punição, Disciplina e Prisão. Na primeira e na segunda parte, de forma exaustiva e até repetitiva, Foucault demonstra como a chamada humanização da pena iniciada por força do influxo do pensamento iluminista ao longo do século XVIII e seu posterior desenvolvimento não passa de um resultado contingente de uma mudança nas relações de poder.
Se no antigo regime a ostentação dos suplícios era a manifestação simbólica da desproporção entre o poder régio e o poder do indivíduo comum – expressa no domínio brutal exercido sobre o corpo do condenado – no período revolucionário e imperial (referindo-se especificamente à França) a pena passa paulatinamente a ser expressão adequada do poder da classe emergente, a burguesia.
Ou seja, quando o corpo do condenado era, no período monárquico, dilacerado pormenorizadamente, às vezes até reduzido a cinzas e lançado ao vento, esse espetáculo era a demonstração do poder bélico, conquistador e desproporcional do soberano que, ofendido pela insurgência do delinquente contra as leis, se vingava afirmando perante todos, através da ostentação dos suplícios, que seu poder era infinitamente superior ao do transgressor.
Por outro lado, as mudanças propaladas pelos reformadores do período iluminista, longe de ser uma preocupação real com a humanização, são apenas a expressão de uma relação outra de poder, que deveria agora se manifestar contra o próprio soberano e contra a delinquência patrimonial.
Segundo Foucault, as mudanças socio-econômicas causadas pela consolidação do capitalismo e pela revolução industrial são as determinantes do discurso humanizador dos reformadores penais, eis que a burguesia buscava uma afirmação do indivíduo frente ao Estado taxador e da propriedade frente a ladrões, receptadores, estelionatários etc. Em suas palavras:
Um saber, técnicas, discursos ‘científicos’ se formam e se entrelaçam com a prática do poder de punir. (…) Se nos limitarmos à evolução das regras de direito ou dos processos penais, corremos o risco de valorizar como fato maciço, exterior, inerte e primeiro, uma mudança na sensibilidade coletiva, um progresso do humanismo, ou o desenvolvimento das ciências humanas. Para estudar, como fez Durkheim, apenas as formas sociais gerais, corremos o risco de colocar como princípio da suavização punitiva processos de individualização que são antes efeitos das novas táticas de poder e entre elas dos novos mecanismos penais. (FOUCAULT, 1987, pág. 23)
Como visto, Foucault não queria “correr o risco” de considerar a mitigação das penas como um efeito do desenvolvimento moral e intelectual do homem, que é a opinião de matriz kantiana segundo a qual a humanidade, atingindo a sua “maioridade intelectual” “emancipar-se-ia” e passaria a determinar-se, não pelos instintos rudes e pela superstição, mas pela “razão”. Como é sabido, a filosofia do século XX opera, de forma geral, um repúdio ao sistema de pensamento kantiano e à ideologia sintetizada em “O que é o esclarecimento”, mesmo sendo ela própria – a filosofia do século XX – resultado direto ou indireto de Kant.
Para ele, ademais, o afrouxamento da severidade penal no decorrer dos últimos séculos não é um fenômeno quantitativo: menos sofrimento, mais suavidade, mais respeito e “humanidade”. Para Foucault, na verdade, “tais modificações se fazem concomitantes ao deslocamento do objeto da ação punitiva. Redução de intensidade? Talvez. Mudança de objetivo, certamente.” (FOUCAULT, 1987, pág. 18).
Enfim, em diversos momentos dessas duas primeiras partes do livro, o philosophe enfatiza a tese da malignidade oculta dos reformadores “humanistas”, que pode-se resumir, ipsis literis, da seguinte forma:
Durante todo o século XVIII, dentro e fora do sistema judiciário, na prática penal cotidiana como na crítica das instituições, vemos formar-se uma nova estratégia para o exercício do poder de castigar. E a “reforma” propriamente dita, tal como ela se formula nas teorias de direito ou que se esquematiza nos projetos, é a retomada política ou filosófica dessa estratégia, com seus objetivos primeiros: fazer da punição e da repressão das ilegalidades uma função regular, coextensiva à sociedade; não punir menos, mas punir melhor; punir talvez com uma severidade atenuada, mas para punir com mais universalidade e necessidade; inserir mais profundamente no corpo social o poder de punir. (FOUCAULT, 1987, pág. 69-70) (Grifos nossos).
Esses ocultos mecanismos de poder, como não poderia deixar de ser, têm também suas implicações epistemológicas. E entre os saberes produzidos por tal relação de poder encontram-se duas “objetivações”: as codificações (objetivação essa que pode ser entendida como a ascensão mesma do positivismo) e o moderno discurso “científico” penal (também relacionável ao positivismo). A segunda, ele diz, demorou mais que a primeira para se desenvolver:
Será necessário esperar muito tempo para que o homo criminalis se torne um objeto definido num campo de conhecimento. A outra objetivação, ao contrário, teve efeitos muito mais rápidos e decisivos na medida em que estava mais diretamente ligada à reorganização do poder de punir; codificação, definição dos papéis, tarifação das penas, regras de procedimento, definição do papel dos magistrados. E também porque se apoiava sobre o discurso já constituído dos Ideólogos. Este fornecia com efeito, pela teoria dos interesses, das representações e dos sinais, pelas séries e gêneses que reconstituía, uma espécie de receita geral para o exercício do poder sobre os homens: o “espírito” como superfície de inscrição para o poder, com a semiologia por instrumento; a submissão dos corpos pelo controle das idéias; a análise das representações como princípio, numa política dos corpos bem mais eficaz que a anatomia ritual dos suplícios. (FOUCAULT, 1987, pág. 85-86) (Grifo nosso).
É dessa teorização segundo a qual os “saberes” codificação e, posteriormente, “homo criminalis” compõem uma “receita geral para o exercício do poder sobre os homens” – ou os saberes mesmos como frutos desse exercício, visto que poder e saber implicam-se mutuamente – que surgirá a ideia de que “a alma é a prisão do corpo”. Aqui nota-se um rebuscamento da antiga tese marxista da superestrutura, pela qual ciência, filosofia, religião, metafísica, direito etc. são apenas manifestações ideológicas que pairam sobre a infraestrutura econômica, e que têm o escopo de desviar a atenção da classe dominada da sua condição material concreta para um “mundo invertido” espiritual, mantendo-a alienada e alheia à consciência de classe.
É na terceira e na quarta parte do livro, entretanto, que ficará claro que a crítica foucauldiana não se dirige somente ao direito penal e às instituições carcerárias ou penitenciárias. Seu fascínio e repulsa se voltam, antes, a tudo o que ele considera como mecanismos de uma “sociedade normalizante”, entre os quais os institutos penais são apenas um exemplo:
Não se trata de fazer aqui a história das diversas instituições disciplinares, no que podem ter cada uma de singular. Mas de localizar apenas numa série de exemplos algumas das técnicas essenciais que, de uma a outra, se generalizaram mais facilmente. Técnicas sempre minuciosas, muitas vezes íntimas, mas que têm sua importância: porque definem um certo modo de investimento político e detalhado do corpo, uma nova “microfísica” do poder. (FOUCAULT, 1987, pág. 117).
As instituições psiquiátricas e as penitenciárias, as escolas e até mesmo a família são alguns institutos nos quais podemos verificar que a sociedade capitalista se caracteriza pela incessante e brutal exigência de normalidade direcionada ao indivíduo. É aí que se insere o papel da disciplina nessa sociedade. A conformação social do capitalismo impõe que o corpo seja um instrumento dócil e útil do bom comportamento burguês e da produtividade econômica.
É nessa lógica que Foucault vai exemplificar reiterada e pormenorizadamente, com análises detalhistas de regramentos militares e escolares, como se dá o adestramento do corpo como forma de controle social.
Sem permitir ao leitor sequer imaginar hipóteses idôneas a desmentir sua argumentação, o estilo obsessivo de Foulcault não deixa brechas para a reflexão. Para um leitor acostumado a filósofos que, como um Leibniz ou um Santo Tomás de Aquino, consideram todas as possíveis respostas a determinada questão filosófica, buscando mostrar, ao menos, que entendeu as objeções possíveis à sua solução, espanta a univocidade do autor, que faz o livro parecer mais com propaganda do que com trabalho filosófico.
É como se em momento algum tivesse ocorrido à mente de Foucault que o adestramento do corpo pode ser, mais do que uma imposição de agentes ocultos poderosos, uma necessidade do indivíduo mesmo dono do corpo, que não quer ficar à mercê de sua animalidade descontrolada mas transformar seu corpo em um instrumento expressivo de sua intencionalidade, e que este processo requer disciplina.
Assim, se a necessidade de todo ser humano adestrar seu próprio corpo para que ele possa ser relativamente livre da materialidade imediata (impulsos, sensibilidade, instintos etc.) não exclui necessariamente a existência de relações de poder nesse processo, ao menos mitiga a “onipresença” dessa “capilaridade” cratológica que bem pode ser, ponderadas as coisas, um fator não tão relevante assim.
Ora, basta considerar um processo de aprendizagem de uma arte-marcial. O aluno, se quiser aprender alguma coisa, deverá submeter-se de alguma forma ao mestre que, ao menos em tese, saberá orientá-lo no treinamento de seu próprio corpo para que um dia, por força de muita disciplina, possa ele mesmo vencer o mestre numa disputa.
Apenas neste exemplo já verificamos a existência de um elemento de condução – e não dominação – do mestre em relação ao discípulo que, diferentemente do que se pode imaginar lendo Foucault, acaba por conferir ao pupilo um poder à custa de alguma disciplina.
Este bloqueio imaginativo proporcionado ao leitor pela obra foucaltiana já foi constatado por vários críticos de gabarito:
O leitor não encontra nenhum argumento para as evidências, nem qualquer exemplo ou contraexemplo que possa semear dúvida. Pois fatos têm uma qualidade abrasiva. Eles borram as figuras e apagam os contornos da representação necessária. (SCRUTON, 2011, pág. 63-64).
A crítica de Roger Scruton como que restitui o leitor de Foulcault ao uso normal das suas capacidades cognitivas. Hipnotizado pela reiteração contínua e propagandística de uma tese abrangente e cruciante, acaba-se por esquecer de fazer um exercício muito necessário após a leitura de qualquer livro filosófico: tentar imaginar as coisas tal como descritas naquela obra; depois, tentar imaginar o contrário ou o diverso.
À parte isso, entretanto, voltemos (disciplinadamente) aos corpos.
Apesar de a constatação de que a sociedade burguesa impõe ao indivíduo um corpo bem-comportado ter o mesmo valor filosófico da descoberta de que os círculos são redondos (é como se o sujeito fosse buscar um enorme embasamento histórico-documental para demonstrar a quadratura dos quadrados) o conceito de “normalidade” tem em Foucault contornos que vão além desses corpos dóceis. Na verdade, ele tem íntima relação com outro conceito, o de “observação”.
Unidos, normalidade e observação são uma chave de leitura indispensável de toda a obra desse filósofo, e para Vigiar e Punir não é diferente. O próprio título, aliás, do livro em apreço traz embutidos ambos os conceitos.
O surveiller do título original que nós, no Brasil, traduzimos por “vigiar” é, conforme Roger Scruton, de difícil tradução. Aduz o filósofo que ele refere-se ao Olhar dos guardas que aparece no Nascimento da Clínica, de 1963, e cita a obra:
Sobre todos estes esforços do pensamento clínico para definir seus métodos e normas científicas paira o grande mito de um Olhar puro que seria pura Linguagem: um olhar falante. Ele rastrearia todo o campo do hospital, captando e reunindo cada um dos singulares eventos que ocorrem dentro dele; e como ele viu, como nunca vira tão claramente, transformar-se-ia na fala que afirma e ensina; a verdade, cujos eventos, em suas repetições e convergências, delinearia sob seu olhar estaria reservada, por este mesmo olhar e na mesma ordem, em sua forma de ensinar, àqueles que não sabem e ainda não viram. O olho que fala seria o servo das coisas e o mestre da verdade. (FOUCAULT apud SCRUTON, 2011, pág. 65).
Inevitável deixar de notar a semelhança entre esse impressionante Olhar puro que captaria cada um dos singulares eventos que ocorrem dentro do hospital psiquiátrico e o panóptico de Bentham, ao qual “Vigiar e Punir” tem dedicada expressiva parte.
Ora, são dois, em resumo, os recursos para o bom adestramento, conforme Foucault: a vigilância hierárquica e a sanção normalizadora. A vigilância hierárquica é o Olhar dos guardas, a sanção normalizadora é a punição. E qual o objetivo disso? Observar para normalizar, vigiar para punir:
Em suma, a arte de punir, no regime do poder disciplinar, não visa nem a expiação, nem mesmo exatamente a repressão. Põe em funcionamento cinco operações bem distintas: relacionar os atos, os desempenhos, os comportamentos singulares a um conjunto, que é ao mesmo tempo campo de comparação, espaço de diferenciação e princípio de uma regra a seguir. Diferenciar os indivíduos em relação uns aos outros e em função dessa regra de conjunto — que se deve fazer funcionar como base mínima, como média a respeitar ou como o ótimo de que se deve chegar perto. Medir em termos quantitativos e hierarquizar em termos de valor as capacidades, o nível, a “natureza” dos indivíduos. Fazer funcionar, através dessa medida “valorizadora”, a coação de uma conformidade a realizar. Enfim traçar o limite que definirá a diferença em relação a todas as diferenças, a fronteira externa do anormal (a “classe vergonhosa” da Escola Militar). A penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e controla todos os instantes das instituições disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, homogeniza, exclui. Em uma palavra, ela normaliza. (FOUCAULT, 1987, p. 152-153).
Quem explicita bem este ponto é José Guilherme Merchior, em “Michel Foucault Ou o Niilismo de Cátedra”, de 1985:
Foucault é claro: vivemos – como herdeiros diretos dos impulsos e das instituições que se manifestaram pela primeira vez na ascensão da sociedade burguesa – sob um “reinado universal do normativo” dominado por agentes da normalidade e da vigilância: o professorjuiz, o médico-juiz, o educador-juiz, o assistente social-juiz. E tal mundo é nitidamente “uma rede carcarária” em “formas concentradas ou disseminadas”. (…) O sistema carcerário, por conseguinte, estende-se “bem além da prisão legal”; a prisão é, no fundo, apenas sua “forma pura” dentro de um continuum de aparelhos disciplinares e instituições “regionais”. Em sua função, pois, “esse poder de punir não é essencialmente diferente do de curar ou educar”; e, dentro da mesma lógica, “graças ao continuum carcerário, a instância que condena se introduz entre todas as que controlam, transformam, corrigem, melhoram”. Graças à “tessitura carcerária da sociedade”, há uma incessante “mistura” da “arte de retificar e do direito de punir”. E assim por diante, ad nauseam. O cume retórico é a passagem frequentemente citada: “Devemos ainda nos admirar que a prisão se parece com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os hospitais, e que todos se pareçam com as prisões?” - o final do capítulo sobre o “panoptismo”. (MERCHIOR, 1985, pág. 145-146).
Feita essa apresentação geral da obra – conforme é minha obrigação ao empreender uma crítica recensória – passemos agora à parte propriamente crítica, mesmo que eu tenha deixado escapar aqui e ali algumas observações que tinham melhor cabimento na companhia da exposição.
Não que haja em mim a pretensão de tratar filosoficamente da questão da pena, ou da hierarquia, ou da vigilância, enfim. Nem estou em condições de arvorar-se na posição de hábil manejador da técnica filosófica. Está ao meu alcance, entretanto, identificar a sua ausência (da técnica filosófica) na obra de Michel Foucault.
Em outras palavras, não vou tratar filosoficamente – até pelo porte e objetivo deste trabalho – de nenhuma das questões espalhadas na obra de Foucault. Limitar-me-ei a apontar que o tratamento dado pelo autor a tais questões prescindiu da mais elementar técnica filosófica.
Não inovo de maneira alguma ao fazê-lo. O amadorismo filosófico de Foucault já foi amplamente constatado por grandes pensadores, tais como os mencionados Roger Scuton e José Guilherme Merchior e outros, como Jean-Marc Mandosio e Jean Baudrillard. O ponto em comum entre esses vários escritores, registre-se, é serem solene e conscientemente [1] ignorados pela academia brasileira em geral.
Michel Foucault insere-se numa tradição de ruptura em relação ao que sempre foi tido como o exercício normal da filosofia. Junto com Derrida, é considerado o maior expoente de algo que surgiu das ruínas do existencialismo sartreano, o pós-estruturalismo.
Conforme notou Merchior, após a glamourização da “lítero-filosofia” de Jean-Paul Sartre e sua rápida decadência, emergiram como novos e populares philosphes esses autores. Entre eles, Foucault que recusava explicitamente rótulos como este que lhe impusemos (estruturalista), mas que assim mesmo não escapou dos paradigmas de tal rotulagem:
Entre esses novos pensadores avultaram Michel Foucault e Jacques Derrida. A “gramatologia” (mais tarde rebatizada como “descontrução”) de Derrida definia-se como uma retomada radical da teoria linguística estrutural de Saussure. Já Foucault voltou-se para a história, porém atento a alguns fascinantes territórios inexplorados dentro do passado ocidental: a evolução das atitudes sociais em relação à loucura, a história da medicina protomoderna, os fundamentos conceituais da biologia, da linguística e da economia. Ao proceder dessa forma, Foucault logo adquiriu a reputação – juntamente com o antropólogo Claude Lévi-Strauss, o crítico literário Roland Barthes e o psicanalísta Jacques Lacan – de ser um dos tetrarcas do estruturalismo, o modismo intelectual que brotou das ruínas da filosofia existencial. Em seguida, dividiu com Derrida a liderança do “pós-estruturalismo”, ou seja, do relacionamento tipo amor-ódio com o espírito estruturalista que veio a prevalecer, na cultura parisiense, a partir de fins dos anos 60. (MERCHIOR, 1985, pág. 14).
E ainda:
Sua conduta era a de um radicalismo excêntrico, assim como suas obras eram as de um estruturalista rebelde. Tão rebelde que – como se vê pela nossa epígrafe – rejeitava energicamente o rótulo de estruturalista. (MERCHIOR, 1985, pág. 15).
Foulcault, entretanto, segue em Vigiar e Punir o mesmo modus raciocinandi comum dos philosophes da época. Aplica, ademais, as condições metodológicas que viraram febre: desconhecimento ou ocultação de todo o status quaestionis daquilo que pretende estudar e reiteração obsessiva de uma tese, sem considerar o mais ingênuo contraponto.
Quem toma para ler um livro como “O problema da pena” de Francesco Carnelutti, por exemplo, pode verificar, comparando-o com “Vigiar e Punir”, a brutal diferença entre uma meditação séria de um problema grave que o autor encara com seriedade mortal e uma repetição ad nauseam (para usar o termo de Merchior) de uma hipótese politicamente útil.
A instrumentalização ideológica e política da filosofia é evidente em Foucault:
Como uma instância de uma velha confusão marxista (a confusão que identifica uma classe como o produto do poder, e então o poder como a busca de uma classe), a análise de Foucault pode ser deixada de lado. Mas é necessário relembrar suas importantes consequências políticas. Em uma discussão notável com um grupo de maoístas no ano de 1968, Foucault infere algumas das morais políticas da sua análise do direito, como outro modo de poder “capilar”, de “introduzir contradições entre as massas”. A revolução, ele nos diz, “só pode ocorrer pela eliminação radical do aparato jurídico, e qualquer coisa que possa reintroduzir o aparato penal, qualquer coisa que possa reintroduzir sua ideologia e permitir a esta ideologia sub-repticiamente imiscuir-se em práticas populares, deve ser banida”. Ele recomenda o banimento da adjudicação e de toda forma de tribunais e de atitudes, à maneira negativa típica do pensamento utópico, em busca de uma nova forma de justiça “proletária”, que não requisitará os serviços de um juiz. Com característica impertinência, ele nos diz que a Revolução Francesa foi uma “rebelião contra o judiciário”: e assim é, deduz, a natureza de toda revolução honesta. (SCRUTON, 2011, pág. 71).
Ora, para aferir o valor de tal instrumentalização como estudo filosófico, devemos antes aferir o valor da substituição da filosofia pela práxis, tal como preconizado por Marx. Assim, precisamos honestamente esclarecer o que é para nós a filosofia. Busquemos fazê-lo o mais brevemente possível.
O mundo (o real) não nos chega como discurso, falado ou escrito. Ele chega como fato permeado por uma ordem. Somos nós – criaturas dotadas de entendimento e razão – que fazemos a transposição do mundo enquanto realidade fática para o discurso.
Tal discurso, enquanto expressão linguística do real, é testemunho fidedigno da verdade.
Alguém pode objetar que, na verdade, o mundo não nos chega como coisa ordenada, como cosmos, mas como mera aparição fenomênica ou como caos. Mas se a ordem do mundo fosse coisa imposta pela nossa razão, como crê Kant, ou se o mundo fosse um completo caos, como dizem alguns, então a própria atividade científica seria impossível, pois não poderíamos descrever as leis que regem a natureza, por exemplo.
Sabemos que para Kant, a atividade científica é possível e é o próprio entendimento humano que imprime ao mundo fenomênico a sua ordem. Mas o argumento kantiano, cria uma ruptura absoluta entre o mundo real das coisas-em-si e a cabeça humana. Pensar que é a razão humana a responsável por imprimir ordem ao mundo é afirmar que a ordem no mundo deixa de existir quando a razão humana deixa de sintetizá-la. É quase como o argumento de Berkeley, segundo o qual algo existe enquanto está sendo visto, e quando eu deixo de ver este algo ou percebê-lo, ele deixa de existir. Tudo isso parece muito rebuscado e empertigante mas, lamentavelmente, foge muito da experiência normal que temos das coisas e da própria constatação de que as leis que regem a natureza existem mesmo onde não está presente a razão humana.
Kant diria que, se não existisse a razão humana, não existiria a ordem cósmica, pois ele pensa que todo o real existe para a realização da lei moral, que é interior ao homem. Mas será que ele tinha, de fato, razão? Ou, na verdade, a ordem cósmica existiria mesmo que não existisse a razão humana? Colocada assim a questão, vemos que se trata de uma armadilha, uma arapuca filosófica. Tentar responder isso nos levaria a especulações estéreis sobre coisas hipotéticas. E no fim que a filosofia de Kant baseia-se em uma afirmativa no fundo hipotética de que se não houvesse a razão, não haveria o cosmos. Se Kant estivesse falando dessa razão enquanto Logos divino, seria bem plausível. Mas como a razão kantiana é a do homem mesmo, esses problemas começam a surgir.
Fato é que a atividade filosófica exige como pressuposto a noção de ordem cósmica. Quem nega essa noção é, na verdade, um anti-filósofo. Entretanto, a experiência mais palpável a toda humanidade atesta que existe essa ordem. Nós, humanos, somos seres, inclusive, que tomamos decisões e atitudes baseadas nessa percepção da noção de ordem cósmica. Como eu falei, a filosofia consiste na arte de transpor para o mundo do conceito os dados da realidade fática, fazendo com que o discurso que daí se origina seja expressão linguística fidedigna do real.
É interessante observar que a ideologia consiste na exata inversão dessa arte. Ela cria o mundo no plano do discurso, numa pretensão de tomar o lugar de Deus, e tenta impôr à realidade suas formas ideais. A recriação do universo, motivada pela revolta gnóstica que julga má a obra divina, é, portanto, a finalidade última da utopia revolucionária. A relação entre as ideologias de massa e o gnosticismo foi estudada por homens de grande peso intelectual, como Eric Voegelin. Quem se interessar pode ir conferir. Mas não é para fazer polêmica que digo isso com relação à ideologia, é apenas por ser preciso, para aferirmos o valor da obra de Foucault em termos de técnica filosófica, definirmos, afinal, se a filosofia é para nós amor à verdade ou amor à revolução.
Assim, encontrando em Foulcault o seguimento fiel da máxima “os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo” [2], esbarramos em óbices filosóficos deveras problemáticos para bem avaliar a obra de Foucault e, em especial, o valor de “Vigiar e Punir” para as reflexões jurídicas.
Se, desbaratados esses óbices, demonstrar-se que, indubitavelmente, não vale a pena entender o mundo, apenas mudá-lo, seguiremos a lógica estudantil parisiense de maio de 1968:
Única estrela do estruturalismo a partilhar plenamente o espírito de maio de 1968, Foucault era um professor polido que adorava escandalizar o estabilishment parisiense, onde era adulado, quer asseverando solenemente que a obrigação suprema de um prisioneiro era tentar a fuga, quer apoiando com entusiasmo a explosão revolucionária do aiatolá Khomeini, em desafio a todos os dogmas esquerdistas. (MERCHIOR, 1985, pág. 15).
E assim, passaremos a acreditar que a hipocrisia é uma virtude, a verdade uma ilusão e o erro um acerto.
Não obstante a lógica da inversão revolucionária, por si, asseverar-nos que o valor filosófico da obra de Michel Foucault é questionável, reputo por conveniente, também, entrar no mérito dela e buscar – novamente sem a mínima pretensão de originalidade – mostrar suas contradições próprias.
Ora, se nenhuma verdade pode ser verdadeira – repetindo o desgastado relativismo – e todo saber é apenas uma relação de poder, como pode a analítica do poder de Foucault ser verdadeira?
Merquior sintetiza o problema, trazendo à baila a crítica de Jacques Bouveresse, e com esta síntese encerramos:
Tudo começa com a ironia de uma filosofia que, tendo sonoramente proclamado a morte do homem (uma questão epistemológica, decerto – mas com que implicações morais cuidadosamente orquestradas!), dedica-se aos mais excitantes problemas da humanidade (loucura, sexo, poder e punição…) sob a alegação de que a filosofia, como investigação de antigas abstrações como a realidade e a verdade, a subjetividade e a história, caducou. Humildade?… Bouveresse duvidada, pois esses filósofos pós-filosóficos escarnecem das pretensões de todo o saber, mas não se inclinam nem um pouco a estender o ceticismo às suas próprias concepções negativas e globalizantes sobre a ciência, a história e a sociedade. Recusando todo debate crítico, eles parecem laborar no equívoco de que a ausência de método e o desdém pelo rigor argumentativo levem automaticamente a uma percepção virtuosa dos “problemas reais”. Não se pejam de passar por escritores, e não por pensadores profissionais; mas o manto “literário” mal encobre um imenso dogmatismo. (MERCHIOR, 1985, pág. 246).
A obra de Foucault é, portanto, um exemplo eloquente de paralaxe cognitiva, entendida como o deslocamento entre o eixo da construção teórica e o eixo da percepção real.
Ou seja, se a teoria do saber cratológico de Foucault é verdadeira, então não faz diferença que ela seja escrita e publicada, pois não passa de uma expressão de mais uma relação capilar de poder.
Para que sua teoria possa ser considerada como um contributo filosófico – e não ser, como todas as coisas, desmascarada como uma relação de poder – é preciso que ela própria seja uma exceção à sua regra, terminando, assim, por desmentir a si mesma.
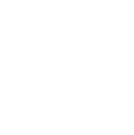










Comentários
Não há comentários nessa publicação.