A filosofia investigou durante séculos, com rigor e profundidade crescentes, o problema da natureza, a ordem e constituição do mundo físico. O problema do conhecimento, isto é, a questão de como chegamos ao conhecimento desse mundo, foi sendo apresentado depois. E somente muito depois se propuseram as questões relativas ao mundo da cultura, quer dizer, ao mundo dos produtos e dos modos de viver do homem. À primeira vista parece surpreendente que o indagado em primeiro lugar haja sido o mais longínquo e estranho a nós: o mundo externo; e somente posteriormente se tenha projetado a curiosidade filosófica sobre o conhecimento em si e sobre a cultura, que é nosso contorno mais imediato, o mais próximo a nós, e não só enquanto contorno, mas sim também enquanto criação nossa.
Porém este fato somente em aparência é anômalo. O que nos toca mais de perto geralmente não é o que primeiro advertimos. Para ver as coisas, é conveniente certa distância que favoreça a perspectiva; se a distância não existe, é necessário um esforço de adequação que concentre o olhar sobre aquilo que por seu próprio imediatismo e intimidade é invisível para uma espontânea atitude de conhecimento. De todo o terreno que é nosso cenário natural em cada instante, somente uma fração goza de total invisibilidade: precisamente a que mais de perto nos toca, as polegadas quadradas que nossos pés pisam. O pedaço de solo que nos sustenta é em cada momento o que não podemos ver.
Esta estranha regra, segundo a qual o conhecimento do mais próximo é o mais difícil e o último, cumpre-se com bastante regularidade, se não em absoluto. Estudou-se o curso dos astros antes que a evolução dos insetos. O menino descobre antes de tudo seu mundo circundante, e tem que esperar até à adolescência para realizar, com angustia e assombro, o descobrimento de sua própria intimidade, de seu próprio ser. O mesmo curso parece seguir o pensamento filosófico. Os primeiros filósofos do Ocidente são os chamados Pré-socráticos, designação que compreende desde Tales até os atomistas Leucipo e Demócrito. Seu problema é, essencialmente, o do ser das coisas, a estrutura e a lei do mundo. O espírito humano que pensa e conhece o mundo, este centro de toda realidade pensada, esta realidade incomparável a toda outra que é o homem, permanece invisível para eles. Os Pré-socráticos veem a serem os avós da filosofia ocidental, mas são também como meninos, absortos no magnífico espetáculo do mundo exterior, ignorantes do mundo que são eles mesmos. A adolescência do pensamento grego, o descobrimento do sujeito, dos problemas que o homem apresenta, ocorre na etapa ética, com os vilipendiados Sofistas e com Sócrates. Quando eles formulam as primeiras interrogações sobre a essência do homem, já havia sido examinado por muitos lados o problema das coisas.
Este atraso inicial do problema humano em relação ao problema da natureza persiste depois, mais atenuado, ao longo de todo o curso do pensamento do Ocidente. A grande filosofia moderna, a que vai desde Galileu e Descartes até Kant, a grande etapa do racionalismo europeu que elabora a concepção mecânica da realidade, é naturalista, isto é, trabalha preferentemente nos problemas da natureza e extrai desses problemas seus esquemas mais gerais. Se se argumenta que esta filosofia é naturalista porque se baseia e apoia na ciência da época, que é por excelência a ciência natural exata, não altera nada do que foi dito. Porque igualmente apontaríamos que também a ciência se preocupou antes com a natureza do que com o próprio homem.
Seria pueril interpretar estas afirmações em sentido literal e absoluto. Dizer que uma filosofia é naturalista não implica sustentar que o problema do homem, o problema do espírito, os problemas parciais do estético, etc., estão ausentes dela. A expressão “naturalista” alude à direção geral, à intenção predominante. Com estas reservas, pode e deve dizer-se que a filosofia moderna, de Descartes a Kant, é naturalista. Esta indicação é sumamente importante, porque muitas concepções nossas, que nos parecem lógicas e evidentes por si, naturais e de sentido comum, são o sedimento daquela filosofia ou, melhor, das grandes correntes subterrâneas do pensamento que naquela filosofia se manifestaram e tomaram forma e relevo. Contra este naturalismo, que está em nós assimilado, funcionalizado, feito carne, combatem agora novos pontos de vista, concepções e interpretações novas, que vão abrindo caminho trabalhosamente desde o princípio do século XIX, e que informam e animam, enquanto tem de atual e viva, a filosofia presente.
A filosofia atual propõe, como um dos problemas que mais lhe interessa apaixonadamente, o problema da cultura.
É sumamente difícil, nos estreitos limites aqui previstos, dar conta de como se apresenta na filosofia atual este problema da cultura. Haveria que saber antes de tudo como e por que nasce esta questão, que especiais circunstâncias fazem possível que agora, e somente agora, se possa encarar em sua totalidade o problema da cultura. E isto importaria examinar como na filosofia recente se critica e supera o naturalismo, que era o máximo impedimento para uma adequada consideração e estimação do humano e, portanto, do cultural. Tal questão deve ficar excluída por razões de espaço.
Em filosofia, cada questão particular aparece intimamente ligada com outras, e, em última instância, com todas. A filosofia é, no fundo, uma grande questão única que se ramifica em questões particulares, as quais sempre remetem, por fim, ao grande tronco único. Por este motivo, e para expor agora algumas ideias sobre o problema da cultura, deveremos acudir a mais de uma referência histórica; e teremos que dar certos rodeios que nos levarão, indiretamente, a nosso assunto.
Para começar, definamos sumariamente o que é a cultura. A cultura, em um sentido muito amplo, está constituída pelos produtos da atividade do homem, e por esta atividade mesma enquanto não é puramente animal; isto é, enquanto é especificamente humana. Entram, pois, no domínio da cultura a arte, a ciência, a filosofia, a religião, o mito, a linguagem, o costume, a moral enquanto prática, o Estado e todo gênero de organismo político ou social, a técnica em todas suas formas. Em resumo, quanto o homem, conscientemente ou inconscientemente, cria, produz ou modifica, e a própria atividade criadora ou modificadora.
O conceito de cultura se opõe ao de natureza. Natureza é o conjunto dos objetos existentes por eles próprios, não criados nem modificados pelo homem. O campo em seu estado natural é natureza; o campo cultivado pertence, por sua vez, ao mundo da cultura, porque o homem o converteu em um utensílio adequado a certas finalidades e propósitos seus.
A realidade, o que existe, parece, pois, distribuir-se em duas grandes porções ou partes: a natureza por um lado, a cultura por outro. Mas não é assim. O homem está além; diferente por essência dos objetos naturais, inclusive dos seres que parecem mais próximos a ele na escala zoológica, dos quais o diferenciam certos caracteres que não nos é lícito analisar aqui. E diferente também, evidentemente, dos objetos culturais, já que definimos estes últimos como os produtos ou resultados de sua atividade. O homem, pois, segundo estas definições, não é natureza, salvo aquilo que nele é materialidade ou animalidade. E não é cultura, mas sim o criador, o protagonista da cultura.
O que no homem é humano desde um ponto de vista exclusivo, peculiar, específico, o denominamos espírito. Ao espírito assim definido, não lhe atribuímos a designação daquilo que no homem cria a linguagem, a religião, a arte, a moralidade, o Estado, etc. Como este princípio somente o encontramos no homem, o utilizamos para separar ao homem da natureza.
Como o que denominamos espírito é o que cria a cultura e a vida, os produtos ou objetos culturais devem ser considerados como encarnações ou realizações do espírito, isto é, como espírito objetivo; Hegel foi o primeiro que aplicou esta designação de espírito objetivo a certos produtos culturais, não a todos. Com sua teoria do espírito objetivo, lançou uma das bases mais sólidas da atual filosofia da cultura.
A interpretação dos objetos e fenômenos da cultura como casos de objetivação espiritual, projeta um problema importante que a Hegel escapou-lhe.
Se queremos conhecer um objeto natural, uma pedra, um animal, indagamos sua constituição, sua origem, seu modo de atuar suas causas e seus efeitos. Examinemos uma pedra. Por mais que avancemos na investigação, por mais que a levemos adiante, por mais que remontemos na série de causas que a constituiu tal como se oferece a nosso olhar, o que encontraremos está tudo no mesmo plano, por assim dizer; não fazemos senão passar de uns elementos físicos a outros elementos físicos.
Vejamos o que ocorre com um objeto, não natural, mas sim cultural. Estamos investigando fisicamente essa pedra a que acabo de referir-me. Mas prontamente percebo que essa pedra não é um pedregulho comum, mas sim uma machadinha pré-histórica. A constituição física do objeto é a mesma agora que antes, evidentemente; tanto, que um geólogo que ignorar que em certas épocas usaram-se utensílios de pedra, poderia investigá-lo até o fim sem ver nele nada mais que uma pedra. Mas o investigador percebe apenas que é uma machadinha primitiva, e não uma mera pedra; altera radicalmente a direção de seu interesse. Já não lhe importam os fenômenos físicos e químicos que interviram na constituição da pedra que está diante dele, mas sim os fenômenos humanos com os quais se relaciona esse objeto. A pedra, ao identificar nela uma machadinha, passou da esfera da natureza à esfera da cultura. Antes, o essencial era averiguar nela sua constituição natural; agora se trata de compreender seu sentido.
A pedra antes entrava em certo domínio especial da esfera da natureza, na geologia ou na mineralogia. Um momento no conhecimento da pedra como objeto natural consistiria meramente nisto: em reconhecer na pedra um objeto natural, um produto espontâneo, alheio ao homem. Outro momento consistiria em incluí-la em uma das grandes classes de objetos naturais, na classe dos objetos naturais inanimados, e sucessivamente nos grupos e nos subgrupos que classifica por sua origem ou por sua composição. Algo parecido poderia ocorrer com o mesmo objeto, desde o ponto de vista cultural. A princípio podemos reconhecer nele, por certas peculiaridades que somente podem ter uma origem intencional, um produto da atividade humana, isto é, um objeto cultural, sem poder especificar melhor. Um exame mais a fundo, acaso nos convença de que, por exemplo, não é um adorno, nem um fetiche, mas sim um utensílio. Mas logo podemos fixar o emprego exato deste utensílio, e ver nele uma machadinha. E mais adiante nos será possível quiçá acertar o uso especial a que se destinava esse tipo de machadinha, e ver nela uma arma de guerra, ou de caça, ou um instrumento para outro uso qualquer, etc. Nada importa que o curso efetivo da investigação arqueológica seja ou não este. O que quero mostrar é o seguinte: que mediante uma série determinada de operações de conhecimento, situamos este objeto cultural em seu lugar justo, por meio de uma sucessão de inclusões nas classes e grupos em que dividimos e subdividimos o reino da cultura, o mesmo que fazemos no reino natural com uma pedra, um vegetal ou um animal. Mas assim como no natural teríamos em conta no objeto sua origem e constituição física ou biológica, no cultural temos em conta seu sentido, isto é, sua significação na ordem da cultura.
O problema essencial no cultural é, pois, em geral, um problema de significação, de sentido. Quase todos os objetos culturais se nos manifestam exteriormente como objetos físicos. Vejamos brevemente como é esta exterioridade física nos distintos objetos culturais. Uma religião é um conjunto de edifícios para o culto, uns livros, imagens e inscrições, certos movimentos e certas palavras nos ritos, na oração. Uma obra de arte é pedra, tela, cor, versos, sons, palavras escritas ou pronunciadas. Um costume se exterioriza em certas atitudes ou movimentos, etc. Mas o que distingue ao objeto cultural do objeto natural, é que o objeto natural é antes de tudo essa constituição física, enquanto que o essencial no objeto cultural é que sua realidade física, externa, é somente o suporte do sentido, o vaso de um conteúdo espiritual. A religião não consiste nos edifícios, nos livros do cânon, nos movimentos e palavras do rito, mas sim no conteúdo espiritual de tudo isso, na doutrina, na crença corporizada neles, expressada por eles. Com a mesma quantidade de mármore pode-se fazer um limiar, uma placa rodoviária, um busto de César. Com as mesmas cores podem-se pintar as portas de uma casa e a Capela Sistina. Vemos como os elementos naturais se converteram em signos da espiritualidade, em receptáculos de um conteúdo religioso ou estético, em veículos de certas intenções humanas. O problema do conhecimento e interpretação do cultural consiste, pois, em passar em cada caso, desses signos, desses receptáculos, desses veículos, ao expressado por eles, ao conteúdo, à intenção humana que encerram.
Esta questão, aparentemente tão simples e até mesmo tão trivial, propõe difíceis problemas. Estes problemas são de duas ordens. Primeiro como se realiza a objetivação espiritual, como se criam e modificam os objetos da cultura. Segundo, como conhecemos estes objetos, quer dizer, como captamos seu sentido, sua significação ou conteúdo. O mecanismo profundo do conhecimento dos objetos culturais, do conhecimento histórico, somente começou a ser desmontado e analisado nos últimos tempos. Se à primeira vista parece algo imediato e fácil, é porque não aprofundamos ainda nele. Também ao homem sem formação científica nem filosófica, lhe parece que o conhecimento da natureza é algo simples, indubitável, que se limita a ver, tocar, medir e pesar as coisas. E já sabemos como a ciência e a filosofia destroem estas ilusões do conhecimento ingênuo, e nos dizem que a realidade física não é o que vemos e tocamos, mas sim algo que está por trás de tudo isso.
Desde logo, os problemas que a cultura apresenta não permaneceram absolutamente despercebidos. Destes, certos problemas foram examinados na filosofia desde bem cedo. Veremos sumariamente quais e em que direções. Mas o importante é estabelecer com clareza o seguinte. Os problemas da natureza se examinaram em toda sua amplitude desde os próprios começos da filosofia; houve, portanto, uma filosofia da natureza. Por outro lado, não se pode dizer que tenha havido uma filosofia da cultura, embora este ou aquele problema da cultura tenha sido examinado filosoficamente desde a antiguidade, porque não se atentou que a cultura é um todo unitário e orgânico, como o é por sua parte a natureza, e em cada um de seus setores devia ser investigado em função do conjunto e com permanente referência a ele. Isto é, houve desde muito tempo uma filosofia da natureza, mas não uma filosofia da cultura, e sim apenas a filosofia de certos setores da cultura isoladamente, sem suspeitar sua intrínseca conexão com os demais, nem menos imaginar que todos juntos constituem um domínio unitário, um mundo especial, o mundo da cultura. Somente numa data muito próxima a nós se chegou a compreender isto.
A filosofia, por exemplo, estudou desde tempos remotos o problema do Estado. Já em Platão e em Aristóteles há importantes contribuições a este grande problema. Mas não chegam a compreender que o Estado é uma forma político-social especial, e que há muitas outras da mesma ordem que devem ser indagadas. Sobretudo, é curioso o que ocorre com o Estado em comparação com a sociedade. A filosofia do Estado, como digo, foi encarada já por Platão e Aristóteles; por outro lado, uma teoria completa da sociedade somente começa a se traçar no século XIX, por Comte e Spencer, iniciadores da sociologia. Este atraso da sociologia em relação à filosofia política, responde sem dúvida ao seguinte: o Estado é mais visível, mais recortado e sólido. Consta de formas rígidas, de instituições que trabalham coercitivamente sobre o indivíduo. A sociedade, ao contrário, é coisa mais vaga, mais elástica, menos evidente; é necessário, portanto, maior capacidade de percepção, uma observação mais crítica, mais fina, mais funda. Estas indicações e outras semelhantes que poderiam se fazer, explicam porque a consideração filosófica dos distintos setores da cultura não se encarou de repente e simultaneamente, mas sim que se foi escalonando ao longo dos séculos.
A cultura não consiste em um conjunto de formas estáticas, quietas. O Estado, a linguagem, a arte, a técnica, todos os feitos ou entes culturais, possuem vida própria, mudam, se modificam. A cultura enquanto processo é o que se registra na história, que é sempre história da cultura. Se antes foi preferentemente história política, é por essa mesma maior visibilidade e evidência do Estado a que me referi anteriormente. É muito instrutivo examinar a projeção do interesse filosófico para a história. A reflexão filosófica sobre a história, quer dizer, a filosofia da história, não existiu sempre. Para os gregos e os latinos a história não projeta apenas problemas filosóficos, não há nada que investigar sob a sucessão imediatamente perceptível de acontecimentos que a história relata. É que para eles não existia a história como dinamismo, como evolução e desenvolvimento. Professavam uma concepção estática da cultura, e o que a história referia não era para eles a não ser o sucessivo substituir das gerações. A história se converte em problema quando se descobre ou se imagina que caminha para alguma parte, que a mudança é algo mais que o mero suceder-se de uns homens por outros. Com o cristianismo aparece pela primeira vez uma concepção semelhante. A história terrena, para o cristianismo, é a aventura aqui abaixo de um ser, o homem, cujo verdadeiro destino é a vida eterna, a salvação. E com isto surge a primeira filosofia da história, em Santo Agostinho e em outros pensadores cristãos, que interpretam o curso histórico em função desses fins transcendentais, supraterrestres. No século XVIII, no que se denomina o Iluminismo ou a Época das Luzes, nos encontramos com outra concepção interessante que serve também de estímulo para um novo florescimento da reflexão filosófica sobre a história. Crê-se nessa época que o homem triunfou ou começa a triunfar das trevas da ignorância, que reconheceu na razão o único guia seguro, e que em adiante se regerá por ela; a razão será, pois, cada vez mais o fator determinante do curso histórico, e por este progressivo emprego da razão a história será cada vez mais uma coisa razoável, o paulatino triunfo da ordem, do bem, da justiça, das artes úteis e belas. Assim nasce no fim do século XVIII pela primeira vez a noção de um progresso histórico, e com ele a exigência de uma reflexão filosófica sobre a história que examine a maneira de ser desse progresso. No século XIX, com o Romantismo, esta noção de progresso do século XVIII codificada no auge da racionalidade e do bom sentido, se modifica substancialmente, se amplia, se complica. Descobre-se que os povos possuem uma vida própria, um desenvolvimento que não consiste essencialmente em uma ampliação da racionalidade. A razão não é senão um dos atributos do homem, e não o determinante. Sustém-se que existe um desenvolvimento na cultura ao longo da história, e que neste progresso todos os momentos são valiosos e possuem seu próprio sentido. A história se entende desde dentro, as peculiaridades de cada época, de cada povo, estimam-se nelas próprias. A partir daqui, por exemplo, a reivindicação romântica da Idade Média, desdenhada e condenada pelo século XVIII, que apenas via nela escuridão e barbárie. Este novo conceito da história é o que representa acima de tudo Hegel, em quem toma corpo uma enérgica tendência da época. Neste novo clima aparece um novo sentido para o histórico, um respeito e uma compreensão que antes nunca existiram para a historicidade. E com esta nova concepção do histórico, que é antes de tudo um profundo reconhecimento de todos os valores que na história se foram realizando, a questão ou o tema da filosofia da história se faz mais patente. Em resumo, vemos porque e quando surge a filosofia da história; enquanto se crê que a história é o mero suceder-se dos homens, não há filosofia da história; quando se crê que a história é algo mais, que tem sentido, que se orienta para alguma parte, que nada ocorre em vão, que o passado prepara o porvir, então se origina a exigência de uma reflexão filosófica que examine a essência do acontecer histórico.
Seria também muito instrutivo aprofundar como as concepções mais gerais de cada tempo determinam outros aspectos da filosofia da história. O século XIX foi em seu primeiro terço romântico e idealista, e em sua metade positivista. Estas duas etapas do século passado se refletem fielmente na consideração filosófica da história. O Romantismo e o Idealismo dos começos do século tiveram sua filosofia da história romântica e idealista. Hegel representa um evolucionismo idealista, e é a figura mais importante, embora não a única, desta direção. O Positivismo de meados do século passado também tem suas filosofias da história, todas elas de tipo positivista, quer dizer, explicando a evolução histórica por fatores de fato, por recursos naturalistas, por influxos materiais, biológicos ou econômicos. Umas vezes, como em Buckle, atribui-se influência predominante ao meio geográfico. Outras vezes, como em Draper, se imagina que uma cultura passa por etapas de infância, juventude, maturidade e senilidade, o mesmo que o indivíduo. Outras se explicam a evolução histórica pelas raças, ou pela economia, etc.
As grandes concepções dominantes na filosofia na época posterior ao Positivismo, quer dizer, no final do século XIX e princípios do nosso, acarretaram grandes progressos na consideração do problema da filosofia da história e, em geral, no expressar do problema total da cultura. As duas direções desta filosofia pós-positivista que mais trouxe considerável contribuição a estes problemas, são a intensificação do problema do conhecimento nas escolas neokantianas, e a nova filosofia dos valores.
Das escolas neokantianas, algumas desenvolvem o problema do conhecimento naturalista, do conhecimento tal como o entendem as ciências naturais. Mas outra escola, também herdeira da filosofia de Kant, a que encabeçam Windelband e Rickert, forneceu uma novidade considerável. Esta escola sustém que o conhecimento de leis, de generalidades, é um modo de conhecimento que não esgota a realidade, que não a reproduz com exatidão e fidelidade, mas sim que a interpreta de um modo peculiar. Ao lado do conhecimento de leis, usual nas ciências da natureza, o conhecimento individualizador, que descreve fatos singulares, o saber de tipo histórico em uma palavra, é tão científico e válido como o outro; se para a natureza averiguamos as leis, quer dizer, as generalidades, e para o histórico nos detemos nas pessoas e nos fatos singulares, é porque assim exige o nosso interesse em cada caso, sem que ele marque uma superioridade do conhecimento de leis, próprio das ciências, sobre o conhecimento do individual, peculiar da história. Como vemos, nesta escola se investiga antes de tudo o problema do conhecimento histórico. Também é a essência deste conhecimento o que preocupa a outro grande pensador de incalculável importância nestes assuntos, Wilhelm Dilthey. Já vimos como o fato ou fenômeno histórico ou cultural se apresenta, sobretudo, como uma questão de sentido, de significado. Dilthey se pergunta como captamos estes sentidos, estes significados, que são a verdadeira substância cultural ou histórica; e desenvolve, pela primeira vez na história da filosofia, uma teoria do conhecimento consagrada a indagar e a fundamentar filosoficamente essa especial maneira de conhecimento que põe em prática o historiador e que lhe permite ressuscitar a vida pretérita. Essa vida já transcorrida se nos oferece em rastros, em signos, em documentos de toda ordem. Como passamos destes signos, destes documentos, ao que expressam, ao que significam? Dilthey aprofunda esta questão até as últimas raízes, e seus trabalhos a este respeito, incompletos e cortados, mas geniais e memoráveis, constituem o fundamento de quanto agora se vai pensando sobre o problema filosófico do saber cultural ou histórico.
Por sua vez, a nova filosofia dos valores; que se inicia no fim do século passado, reveste uma importância excepcional para a compreensão do mundo cultural. A filosofia havia-se preocupado até então principalmente do problema do ser, e havia deixado na sombra a questão do valor, do puro valer. A reflexão sobre esta questão, a aclaração da essência do valor, é indispensável para a ajustada interpretação da cultura, porque os processos culturais se realizam em vista de valores, e o próprio dos objetos culturais é incorporar valores. Desde o ponto de vista dos valores, Enrique Rickert, já antes citado, estabeleceu sua filosofia da cultura. Para Rickert, a cultura se divide em domínios, cada um presidido por um valor; em cada um destes domínios há um bem ou produto ou função em que o valor se encarna e realiza; uma peculiar atitude do sujeito, e uma concepção típica do mundo que responde à preponderância do valor correspondente. Por exemplo, no domínio estético, o valor é a beleza, o produto ou função em que este valor se encarna é a arte, a atitude do sujeito é a intuição estética, e a concepção do mundo dominante quando predomina este valor é o esteticismo. E assim para os outros valores. Tudo isto, dito assim, parece elementar e de sentido comum, mas as análises de Rickert descobrem muitos aspectos insuspeitos, inesperados, que arrojam muita luz sobre a contextura e a dinâmica da cultura.
Mas quem por acaso proporcionou mais sólidos e duráveis materiais para teoria completa da cultura que já se vai delineando, é Hans Freyer, em seu breve e substancial livro Teoría del espíritu objetivo, publicado faz muito poucos anos. Seguindo-o, vamos ver como se desenha agora o problema total da cultura enquanto mundo fechado, enquanto sistema; como minha intenção não é expor a Freyer, mas sim dar uma ideia geral da questão, modificarei quiçá alguns de seus pontos de vista se outros me parecem mais aceitáveis.
A cultura é o mundo próprio do homem, seu ambiente mais cálido e imediato. Integram-na objetos e processos que ele cria ou realiza, umas vezes conscientemente, outras inconscientemente; umas vezes individualmente, outras coletivamente. Os objetos e os processos são em certo modo inseparáveis. Mas a análise pode separá-los com o fim de estudá-los melhor individualmente; sempre com a reserva de que processos e objetos estão intimamente unidos e às vezes se confundem, se identificam.
Uma classificação dos domínios culturais desde o ponto de vista material, isto é, pelo conteúdo ou a realidade concreta de cada um, distingue os distintos ramos culturais que já antes enumeramos; a arte, a religião, a filosofia, a ciência, a técnica, o mito, a moralidade, o costume, a sociedade, o Estado, a linguagem, etc. Mas se queremos fazer um estudo sistemático da cultura, convém encará-la desde outro ponto de vista. Os produtos culturais são realizações do espírito, objetivações ou materializações espirituais. O primeiro, então, é estudá-los em vista desta fundamental característica, quer dizer, segundo o modo como neles se realiza a objetivação espiritual. Isto dá lugar a uma classificação formal, a uma classificação segundo a maneira e a direção da objetivação, e não segundo o conteúdo.
Com este critério Freyer distingue cinco grupos ou tipos gerais de produtos culturais, que designa com os nomes de: formações, úteis, signos, formas sociais e educação.
O primeiro grupo, que chama formações, ou criações, compreende todas as obras de arte, toda teoria, e, portanto, as doutrinas religiosas, as ciências, a filosofia. Aqui já vemos a diferença profunda entre esta consideração formal, e a corrente ou material (pelo conteúdo), já que em somente um grupo encontramos coisas tão distintas por sua substância e significado concreto como uma escultura, uma religião e uma doutrina científica. Mas recordemos que o critério é a forma como se realiza a objetivação espiritual. O determinante neste grupo é que os entes que o compõe tem sentido completo por si mesmos. À primeira vista, um quadro como obra de arte é mais parecido à gravura de um anúncio que a uma doutrina religiosa. Desde o ponto de vista elegido, entretanto, não é assim. Um quadro como pura obra artística tem em si seu próprio e completo sentido, e o mesmo uma doutrina religiosa; por sua vez, a gravura de um aviso, um “pôster”, não pretende acorrentar a si a atenção e a valorização do espectador; pelo contrário, procura simplesmente atrair vivamente sua atenção para projetá-la em seguida sobre outra coisa muita distinta, sobre a coisa representada ou aludida em anúncio.
O segundo grupo é o dos úteis, isto é, tudo o que se constituiu em vista de sua utilização prática, tudo o que serve para alguma coisa. A classe dos úteis compreende todas as ferramentas e maquinários, e muitas outras coisas que não costumam entender-se geralmente sob a designação de utensílios, como os vestidos e o campo cultivado. Um útil ou instrumento é também, desde este ponto de vista amplo e formal, uma casa, uma rua, um navio.
Em terceiro lugar vem o grupo dos signos, que inclui tudo o que serve expressamente para significar alguma coisa. O signo tem em si seu sentido, mas o peculiar deste sentido é dirigir-se para outro objeto. Signos são os da linguagem corrente e os de qualquer outra linguagem ou sistema de notação, como a formalidade matemática ou a da química. E também um marco, um indicador de caminho, um indicador de perigo ou qualquer outra marca destinada a informar-nos de alguma coisa.
Mas o signo é produto cultural em sentido estrito, isto é espírito objetivado, quando seu significado se fez carne nele, se objetivou por inteiro, desprendendo-se de certo modo de quem o criou. Porque uma das notas ou propriedades do espírito objetivo, dos entes culturais, é certa independência e autonomia que é precisamente o que lhes dá personalidade e lhes permite passar ao domínio comum. Há notas que se podem tomar também por expressões, por sinais de alguma coisa, mas não são signos propriamente ditos; seguem expressões de alcance subjetivo, e não objetivações. Ponhamos alguns exemplos. Um indicador de caminhos é signo, pertence ao espírito objetivo, ao domínio da cultura, enquanto indica algo sobre o caminho, enquanto desempenha sua função própria; mas se observamos nele como foi feito, podemos inferir, por certos sinais, que quem o fez era um trabalhador hábil ou inábil, que o fez depressa ou lento, à mão ou à máquina, etc. Indubitavelmente, tudo isto o averiguamos ou supomos interpretando algo nele que funciona como sinal, como expressão. Mas há que distinguir estes sinais ou expressões, daquelas outras que atribuem sua própria significação ao signo. Outro exemplo. Se alguém fala, sua palavra é signo enquanto espírito objetivo somente por seu estrito significado, idêntico em qualquer que expresse a mesma palavra; mas não pela especial inflexão da voz, pelo tom, que, entretanto, nos dizem coisas sobre o que está passando em quem fala: se se expressa com seriedade ou em brincadeira, se está atento ou distraído, se crê muito, pouco ou nada o que diz etc. Tudo isto é subjetivo, cambiante, individual, e o característico do espírito objetivo, dos objetos da cultura, é sua relativa autonomia e consistência própria, que os põem em relação com todos.
A quarta classe ou categoria é a das formas sociais, que compreende todas as relações humanas, o costume, o direito, etc., e a quinta, a mais difícil de definir nos termos sumários em que aqui estamos obrigados a fazê-lo, a educação. A educação se considera forma do espírito objetivo enquanto incorporação ao indivíduo de bens culturais, que o indivíduo se apropria e faz seus. Em certos modos especiais de educação isto é particularmente visível. O médico, o jurista, mostram em sua conduta a existência neles de certos esquemas profissionais; inclusive mais rígidos se mostram estes em profissionais que alcançam tingir mais amplamente toda a vida, como no caso do sacerdote ou do militar. Mas esta incorporação de formas objetivas se dá em toda educação; todos sabemos o que é um homem culto, ou um homem de mundo, etc.
A vida da cultura é o conjunto de ações e reações entre os objetos culturais e o sujeito que os cria, que os modifica, que os compreende. A cultura não é de nenhuma maneira a galeria de formas a que me referi faz um momento, enquanto coisa estática e isolada, mas sim a dinâmica dessas formas como ambiente ou contorno vivo do homem. Os processos culturais são de duas ordens bem distintas.
São, por uma parte, processos de conhecimento, de compreensão. Compreendemos, nos apropriamos o sentido de uma teoria científica ou de uma obra de arte, penetramos na significação de um signo, sabemos que tal coisa é um instrumento e aprendemos a servir-nos dele. Já disse que este peculiar modo de conhecimento projeta problemas cuja dificuldade e complicação contrastam singularmente com sua aparente simplicidade.
Por outra parte, são processos de criação e modificação dos produtos culturais. Também por este lado são muitas as complicações. A criação pode ser individual ou coletiva: tem aspectos conscientes e aspectos inconscientes. Ademais, no mundo do espírito objetivo se apresenta um curioso fenômeno que intervém na criação, o fenômeno que podemos chamar da coerência; a estrutura da obra somente em parte se deve à atividade criadora do sujeito, porque a obra em transição de criação possui certa regularidade interna, certa linha própria de desenvolvimento, que canaliza e dirige dentro de certos limites a vontade do criador: é como se o mesmo objeto que se vai criando colaborasse com seu criador. Quando a criação é coletiva, aparecem fatores mais difíceis de discernir. À parte dos processos de criação, estão os de evolução ou mudança. Dentro de uma mesma exterioridade, pode mudar o conteúdo; assim nas chamadas mudanças semânticas, nas variações no significado das palavras, capítulo tão apaixonante da atual linguística. Em geral, as formas culturais possuem certa rigidez, certa tendência a sobreviver, que não impede uma relativa elasticidade. Mas esta elasticidade não é ilimitada; levada até certo extremo, uma forma cultural se rompe, morre e deixa seu lugar a outra. Este fato é bem conhecido pelo que toca a certos produtos culturais, o Estado, por exemplo. O importante é reconhecer que vale para toda forma cultural, quer dizer, que há uma sucessão de evolução paulatina e de trânsito repentino em todas as ordens da cultura, e que isto é lei geral da cultura. A consequência seria que há que descartar a ideia tradicional da evolução contínua, porque toda linha de evolução está destinada a quebrar-se para deixar lugar à outra nova.
O problema da cultura, tal como o esboçamos, vemos que começa apenas a se projetar e que, para seu total esclarecimento, requererá ainda o esforço múltiplo e continuado de umas quantas gerações de investigadores. Apenas algumas das mais importantes questões que implica foram vistas até nossos dias. O problema da compreensão dos objetos culturais, e o dos valores, que proporcionam sua base à aclaração do cultural, datam de ontem, por assim dizê-lo, não levam mais de meio século de indagação consequente, período extremamente curto se o compara com os séculos ao longo dos quais se indagaram outros problemas filosóficos, por exemplo o da substância ou o da causalidade. E, contudo, a questão reveste ainda maior complexidade se a põe em função de outra à que ainda não nos referimos, e da que não se pode prescindir.
Refiro-me ao problema da concepção do mundo, que somente nestes últimos anos começa a estudar-se, problema cheio de obscuridades e de enigmas. Sobre este assunto, somente podemos fazer referências sucintas e limitando-nos a sua relação com nosso tema presente.
À primeira vista pareceria que há no homem enquanto protagonista da cultura, capacidades que entram em comércio imediato com as respectivas formas culturais. Isto é, uma capacidade religiosa, estética, científica, etc., que produzem ativamente e captam receptivamente a religião, a arte, o saber científico, etc.
Mas um exame a fundo demonstra que a situação é distinta. O homem está como envolvido em um meio sutil que é sua concepção do mundo, sua visão e estimação das coisas, da vida, de seu próprio ser, não como saber reflexivo e consciente, mas sim como alguma coisa vívida, imediata, inconsciente ou quase inconsciente. Há concepções próprias do mundo de uma raça, de uma época, de um povo; há concepções peculiares do mundo a certas classes sociais, a determinados tipos humanos, a indivíduos isolados, e costumam sobrepor-se e entremesclar-se. Tingem com seu especial colorido o que vemos, dão um tom determinado a nossa vida, orientam nossas preferências, guiam nossas estimações. A concepção do mundo em cada momento se reflete na cultura, a determina, lhe outorga seu acento e sua unidade de estilo. Por exemplo, uma concepção do mundo em que prepondere o fator religioso, coloreará de religiosidade todos ou quase todos os aspectos da cultura. Uma concepção do mundo de tendência estética ou utilitária, tingirá de esteticismo ou utilitarismo até mesmo aqueles setores da cultura que menos têm que ver diretamente com a arte ou com a utilidade.
Com a exposição dos problemas da cultura da filosofia atual, se lhe abrem novos e dilatados horizontes. Indagadas largamente pelo pensamento tradicional (o que não quero dizer quem estão resolvidas) as questões referentes à natureza, se inicia o exame de uma nova ordem de temas, apaixonantes e virgens; temas que nos são os mais próximos e íntimos, os que mais de imediato tocam a nossa vida e a nosso destino. Nosso país vai reivindicando seu lugar entre os povos que trabalham nas grandes tarefas do pensamento, e devemos esperar e desejar que contribua ao aprofundamento e aclaração destas questões.
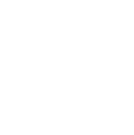











Comentários
Não há comentários nessa publicação.