Se alguém perguntasse “Como vai a 'Questão de Deus'?”, muitos de nós estaríamos inclinados a responder: “Existe essa questão?”
“Certamente que não!”, sustentam os cientistas e racionalistas convictos, os quais afirmam que o conceito de Deus não pode ser apresentado de forma alguma como uma construção intelectual compreensível e incontroversa. Antes de colocarmos a “questão”, dizem, devemos saber do que ela trata. Precisamos, portanto, ter à nossa disposição uma concepção clara de Deus antes que formulações como “Deus existe” ou “Deus não existe” ou “Deus existe?” possam ser tomadas como objetos de reflexão. Isto, no entanto, é impossível. Toda formulação abstrata de Deus é controversa ou incompreensível por uma questão de princípio, porque ela não pode, de modo algum, ser posta em contato com a realidade empírica. Por isso, a “questão” é vazia.
Mas a “Questão de Deus” não existe nem mesmo para os crentes — se eles existem — cuja crença herdada permanece inabalável e sólida como uma rocha. Eles sabem, sem duvidar, que vivem em um mundo regido por Deus. E para as almas escolhidas que compartilharam as bênçãos da experiência mística, talvez a palavra “fé” seja inadequada. Pois a fé só é ativa quando uma distância sombria desperta o potencial de incerteza entre o percebedor e o percebido. Na experiência mística, toda distância é removida. Essas pessoas, naturalmente, não se colocam nenhuma “questão de Deus”.
Mesmo para os ateus convictos — se eles existem — não pode haver nenhuma “questão de Deus”. Eles sabem, sem duvidar, que a ciência afastou Deus do mundo de forma conclusiva, e que a imagem de Deus é uma expressão das sobras de antigas superstições, da ignorância, de um mecanismo de defesa psicológica ou de conflitos sociais.
O mundo em que vivemos, no entanto, não é um mundo de pessoas fixadas em vidas plenas e plenas de fé ou incredulidade. É muito mais uma era de refugiados e exilados, o “judeu eterno” em busca de uma pátria perdida — espiritual ou física. Nessa vida nômade, nada é certo, nada é garantido, nada é definitivo, nada — além de seguir errante — é inquestionavelmente dado.
Um Deus que um dia confirmou a ordem bem estabelecida de valores, relações sociais, regras de pensamento e o cosmos físico, e que deveria ser a cúpula sobre essa ordem, não existe mais porque a ordem em si não é mais visível. Enquanto as pessoas podiam confiar na durabilidade dessa ordem, os ímpios também tinham nela o seu lugar (só consigo pensar na civilização cristã-europeia). Quer contassem como errados, loucos ou mensageiros do inferno, seu lugar dentro da ordem mundial reconhecida era certo. Quer também fossem perseguidos, punidos ou sentenciados à morte, eles eram, de certo modo, afortunados, porque não apenas sua causa estava segura, como estavam também espiritualmente livres.
Mas junto com a autoconfiança da crença, a autoconfiança da descrença foi igualmente abalada. Em contraste com o mundo acolhedor da antiguidade, protegido pela natureza bem-intencionada e amistosa do Iluminismo ateísta, o mundo sem Deus de hoje é percebido como um caos eterno e aflito. Foi roubado de todo significado, toda direção, todos os parâmetros e toda estrutura. Assim falou Zaratustra. Por mais de cem anos, desde que Nietzsche anunciou a morte de Deus, raramente se viu ateus felizes. Um mundo em que uma pessoa é deixada à sua própria mercê, no qual ela se declara uma livre legisladora para qualquer ordem do bem e do mal, na qual ela — liberta da condição de escrava de Deus — esperava recapturar seu sentido perdido, este mundo se transformou em um lugar de aflição infinita. A ausência de Deus tornou-se a ferida cada vez mais aberta do espírito europeu, mesmo que caída no esquecimento, provocado por um anestésico artificial. Vamos simplesmente comparar o mundo ímpio de Diderot, Helvétius e Feuerbach ao de Kafka, Camus e Sartre. O colapso do Cristianismo tão esperado pelo Iluminismo ocorreu quase simultaneamente ao colapso do próprio Iluminismo. A nova e brilhante ordem do antropocentrismo construída no lugar do Deus caído nunca veio. O que aconteceu? Por que o destino do ateísmo estava tão ligado ao do cristianismo, de modo que os dois inimigos se acompanharam em seu infortúnio e insegurança?
A história do cristianismo certamente nos deixou com grandes testemunhos de inquietação espiritual de diferentes períodos: nos escritos do jovem Agostinho, de Pascal e Kierkegaard. Mas a inquietação como a qualidade do espírito por excelência, sua quidditas (“que-é”), é um sinal do nosso tempo e da nossa cultura, que vive e avança em um “balanço” criativo e que todos nós experimentamos como uma doença — mesmo que não possamos concordar com um diagnóstico. O lugar abandonado por Deus é a fonte dessa doença? Kierkegaard acertou ao dizer que todo o desespero sobre as coisas terrenas é realmente — e sem que necessariamente nos conscientizemos disso — o desespero sobre o Eterno? Não podemos, naturalmente, prová-lo; podemos apenas suspeitá-lo.
Essa suspeita não apenas assombra o mundo do intelectual, do filósofo e do poeta, mas também o do espírito europeu em sua típica vida cotidiana. A inquietação atormenta e destrói os polos ativos da cultura religiosa — o cristianismo e o ateísmo; também pode ser visto na indiferença generalizada que aparece hoje como a principal forma de vida espiritual. Mesmo dentro da aparente apatia o vazio perturbador não pode ser completamente disfarçado. Por trás de todos os nossos sucessos e experiências esconde-se o aviso apocalíptico: “Pois dizes: sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu o infeliz: miserável, pobre, cego e nu!” (Apocalipse 3:17).
Costuma-se dizer que a secularização decorre, por um lado, do progresso da ciência, cujo papel tem crescido poderosamente em todas as áreas de nossas vidas e onde Deus não tem mais lugar; e, por outro lado, da incapacidade do cristianismo, particularmente da Igreja Católica, de superar os grandes problemas sociais que se seguiram à industrialização. Sob esse ponto de vista, o cristianismo mostrou-se insensível a novos conflitos e necessidades sociais, porque seus olhos são incessantemente direcionados apenas para o céu e para Deus. Esquecidas, as coisas terrenas devem estar por si mesmas.
Nenhuma parte desta opinião popular me parece credível. No que diz respeito à primeira, é certamente verdade que Deus não é uma hipótese empírica que se permite ser cientificamente testada ou apresentada. A insuficiência de nosso conhecimento a esse respeito é inescapável. Não há passagem logicamente acessível do conhecimento empírico, por mais distante que possa ser estendido, ao infinito, nem a uma providência pessoalmente concebida e intencionalmente ativa. Desde o século XVII, quando a pesquisa científica separou-se da teologia e do culto religioso, e codificou suas regras processuais, sua base e seus métodos fundamentais são completamente indiferentes à “Questão de Deus”. O objetivo dessa codificação era tornar os resultados científicos em ferramentas de predição e colocar, assim, os fenômenos naturais sob controle humano.
Que Deus possa ser expulso do mundo por esses meios não é de todo credível, a menos que se confunda ciência com racionalismo científico. A última — isto é, a regra segundo a qual o valor do conhecimento é determinado pela aplicação inequívoca de regras científicas — é uma doutrina epistemológica arbitrária concebida por filósofos que pretendiam minar a crença religiosa. O cientificismo não é uma consequência lógica da ciência, nem é possível sustentar plausivelmente sua consequência social. Mesmo que tenham se desenvolvido paralelamente, isso não aconteceu porque a ciência causou o cientificismo. Claro que a conexão não foi acidental. O racionalismo científico baseia-se em princípios normativos e expressa uma hierarquia específica de valores. Deus é excluído da concepção científica do mundo porque exclui tudo que não se permite ser usado no impulso humano para o seu domínio sobre a natureza.
Com efeito, tanto a teologia cristã quanto sua construção popular não foram inocentes na confusão entre conhecimento racional e fé, na medida em que elas são aquelas que tentaram convencer as pessoas de que se poderia descobrir empiricamente a justiça de Deus no mundo e controlá-Lo magicamente em nossos esforços e paixões. Esse ponto de vista fundamentalmente anticristão é precisamente o que se deve chamar de superstição. A superstição consiste em conceber Deus como uma máquina que — graças à aplicação da técnica correta — produzirá os efeitos desejados, como se, por exemplo, a oração fosse uma operação técnica que, se cuidadosamente executada, nos traria resultados perfeitamente previstos.
Na medida em que o ensino cristão promovia atitudes supersticiosas, também contribuía decisivamente para a sua própria destruição. O mesmo se aplica à teologia que alega praticar “teologia científica”. Quando a fé disputa com a ciência pelo uso dos mesmos critérios, é condenada a se tornar uma pseudociência cujos esforços serão sempre frustrados e cujas alegações serão sempre desmentidas. Quanto mais a confusão entre fé e conhecimento profano se espalhava, mais as pessoas — especialmente as pessoas cultas — se sentiam compelidas a deixar a fé à mercê da superstição. A cosmovisão cristã é e continua sendo uma visão clara do destino humano. A teologia científica, em contrapartida, é uma superstição.
Nesse sentido, pode-se sustentar que o racionalismo científico teve um efeito curativo sobre a cultura, na medida em que contribuiu para a purificação da superstição do cristianismo e devolveu-lhe uma melhor autocompreensão de seu chamado. O ateísmo e o cientificismo se fortalecem mutuamente, é óbvio. Mas, novamente, nenhum dos dois conta como um verdadeiro produto da ciência. A origem de ambos pode ser muito melhor investigada em fatos culturais, em nossa inclinação a desprezar tudo que parece inútil à nossa busca libidinosa pelo domínio e em nosso desejo de possuir. A atual crise de confiança na ciência e na tecnologia diante de seus resultados perigosos pode enfraquecer as ideologias do racionalismo científico. A crise em si, por outro lado, nada tem a ver com a validade ou invalidade das normas do conhecimento científico.
Dizer, então, que o cristianismo sofreu perdas tão expressivas porque não é “científico” parece-me surpreendentemente ingênuo. É preciso afirmar o contrário: sempre que o cristianismo quiser sustentar seu valor “científico”, ele só poderá levar a um pseudoconhecimento sem poder, e foram precisamente essas alegações que produziram os conflitos improdutivos com a ciência. Foi precisamente o medo do cristianismo de se definir em clara oposição ao racionalismo que levou não só à erosão da fé, mas também às infrutíferas tentativas de atacar a ciência. Porque até a ideia de uma contradição entre ciência e fé era baseada num conceito de fé como uma espécie de conhecimento profano.
O mesmo acontece com a segunda reprovação, na qual o cristianismo, por se preocupar apenas com valores espirituais, negligenciou a preocupação com a comunidade terrena e não procurou nem encontrou respostas para os terríveis problemas sociais da modernidade. Com isso, condenou-se a ruína. Mas não é mais correto afirmar o contrário? O erro da Igreja existe muito mais no fato de ter vinculado inequivocamente sua pretensão moral a uma doutrina social específica, pois, ao fazê-lo, expôs-se à censura de fundir seus valores eternos com as formas sociais contemporâneas — isto é, o sagrado com o profano.
Havia, acredito, elementos bem fundamentados nos ataques que os socialistas do século XIX dirigiam contra a hierarquia da igreja. A posição da Igreja em face da mudança social e do destino dos pobres e oprimidos era digna de críticas. Nós erramos, porém, quando dizemos que a Igreja pensava apenas em outro mundo, ou que deveria ter se concentrado mais na vida e sofrimento temporais. Pelo contrário, é mais verdadeiro dizer que a Igreja foi demasiado prisioneira das estruturas sociais existentes e muitas vezes dava a impressão de que essas estruturas se baseavam definitivamente em valores cristãos imutáveis.
O Cristianismo é continuamente ameaçado pela mesma tentação, mas vindo em duas variações opostas. Não envolve o esquecimento da terra, mas sim o esquecimento do valor inevitavelmente relativo dos assuntos terrenos. Ambas as variações aumentam a impiedade, no sentido de que parecem confundir a fronteira entre o sagrado e o profano — ou mesmo eliminá-la. Mas não há nada profano — nenhum fim social ou intelectual — a que o Cristianismo esteja mais bem preparado do que poderes temporais para defender. Por mais que o cristianismo deseje envolver-se nas questões da política temporal e dos conflitos sociais, ele deve, todavia, perceber todos os bens temporais como relativos. Por outro lado, a Igreja também não pode ser totalmente apolítica, uma vez que, afinal, é um órgão da cultura. Deve, portanto, ser vigilante quanto à recusa de se identificar com qualquer organização ou movimento político existente.
Os velhos laços entre a Igreja e as ordens sociais temporais foram tão perigosos para a causa cristã quanto as novas tentativas de conectar a ideia cristã às ideologias políticas do messianismo revolucionário. Nenhuma dessas tendências cumpre a esperança de uma renovação na vitalidade da mensagem cristã. Em ambos sentimos a tentação de subordinar essa mensagem a fins temporais — isto é, à tentação de transformar Deus em uma ferramenta, um objeto potencial de manipulação humana. A tendência teocrática (enfraquecida, mas ainda não morta) — a esperança desastrosa e malsucedida de que a humanidade pudesse ser levada à redenção por meio da coerção — e o esforço aparentemente oposto para subordinar os valores cristãos a esta ou aquela ideologia revolucionária caminham juntos em seu ponto de vista fundamental. Ambos transformam Deus em um instrumento para fins que, justificados ou não, jamais podem ser considerado fins do ponto de vista cristão. Cada um deles corre o risco de converter a comunidade cristã em partido político. Ambos, portanto, representam uma corrosão interna do Cristianismo. Sempre foi o caso de que a maior ameaça vem dos inimigos que estão dentro dos muros.
Descrita de forma tão geral, a situação não parece nova. Toda a história do ensino cristão pode ser considerada uma luta sem fim sobre a linha divisória entre o sagrado e o profano. As revoluções espirituais mais fortes que aparecem como interrupções nesta história foram geralmente tentativas de interromper o processo de profanização, de devolver ao Cristianismo sua vocação original e de trabalhar contra sua dominação por interesses temporais. Essas reviravoltas nunca foram gratuitas e nunca foram totalmente bem-sucedidas. O perigo nunca poderia ser enfim superado porquanto reside na própria natureza do Cristianismo, na tensão eterna entre sua autointerpretação temporal e sagrada. A Igreja é e deve permanecer um repositório da graça divina e, ao mesmo tempo, um organismo existente neste mundo, culturalmente determinado, historicamente modificado e agindo com meios temporais.
Temos os Evangelhos para testemunhar a solidariedade com os pobres, os oprimidos, os desafortunados e os indefesos — não temos um Evangelho que anuncie a promessa de uma terra sem mal, sem sofrimento e sem conflitos. Temos os Evangelhos para condenar aqueles que, em seu conforto e sua glória, permanecem indiferentes ao sofrimento e à fome dos órfãos — não temos Evangelho para pregar igualdade ou desigualdade social, ou para prescrever uma receita para um sistema social perfeito através do qual todos os impulsos e desejos humanos são satisfeitos e todas as frustrações superadas. Temos os Evangelhos para denunciar tiranos e perseguidores — não temos Evangelho para fazer um pacto com uma forma de tirania contra outra em nome de sonhos quiliásticos. Um Cristianismo onde é silenciosamente aceito que Deus está pronto para nos servir, para proteger qualquer tipo de causa, doutrina, ideologia ou partido político é impiedade disfarçada.
Nesse sentido, pode-se dizer que tanto a tendência teocrática herdada quanto o “progressismo” cristão promoveram a descristianização. O que as pessoas buscam na religião é — mirabile dictu — Deus, e não a justificação de valores políticos ou explicações “científicas” da natureza. O cristianismo que se curva ante as modas intelectuais e políticas em busca do sucesso momentâneo participa de sua própria destruição. Nunca pode igualar ou superar a ciência na aplicação de critérios científicos ao ensino cristão. Nunca pode igualar ou superar a promessa de felicidade terrena oferecida por ideologias políticas e, quando o tenta, inevitavelmente mostra sua impotência e irrelevância. O Cristianismo vê o destino humano à luz dos Evangelhos e do Livro de Jó — e não nas categorias que as utopias teocráticas, tecnocráticas ou revolucionárias formularam.
Talvez — e isso é, claro, apenas especulação — a descristianização se mostre favorável à causa do Cristianismo a longo prazo. Não deveria ser espantoso que um Cristianismo acostumado a se identificar com a política do poder e intrigas diplomáticas, por um lado, e com o fanatismo e o clericalismo cru, do outro, tenha chegado ao fim. Do doloroso mas purificador purgatório de uma história impiedosa e profana, talvez surja um cristianismo mais fiel ao seu próprio espírito. Talvez.
É corretamente dito que o Cristianismo deve alterar a linguagem de seus ensinamentos e se conformar às transformações dentro da civilização. Fez isso sem grandes dificuldades mais de uma vez. Nesse processo de adaptação sempre surge o perigo de que na busca de novas formas o conteúdo seja esquecido. Parece que o europeu de hoje é quase sempre surdo para a linguagem convencional da teologia. Que o tomismo foi de imensa importância na história cultural, ninguém pode duvidar. Mas como uma estrutura conceitual na qual podemos capturar o cosmos hoje, ele atingiu seus limites.
O problema não é — como se costuma ouvir — que o ensino tradicional seja “incompreensível” para os contemporâneos. Não há fundamento para a opinião de que de repente ficamos mudos, de que algo que era compreensível para as pessoas da Idade Média se tornou inacessível para nós. O que mais importa é simplesmente a distância entre a vida diária de nossa experiência e o idioma teológico herdado. A busca de sentido no mundo não deve apenas levar em conta a ordem ou desordem da civilização circundante — todos os seus componentes incluídos — como seu ponto de partida, mas também deve estar consciente de quais expressões a presença permanente do mal no ser humano toma nas perturbações, sofrimentos e preocupações específicos daquela civilização.
Nós rezemos com urgência a Deus para que ele deixasse o mundo. Ele assim o fez, a nosso pedido. Um buraco aberto permanece. Rezamos constantemente para este buraco, sem resultado. Ninguém responde. Estamos com raiva ou desapontados. Isso é uma prova da não existência de Deus?
O que há de novo em nossa experiência? O Mal? Ele sempre esteve conosco e veio de nós. É realmente muito maior do que antes? Às vezes, perguntamos retoricamente: onde estava Deus em Auschwitz, em Kolyma, com todo o genocídio, tortura, guerra e atrocidade? Por que Ele permaneceu inerte? Mas essa é uma pergunta ruim. Além do fato de que os horrores monstruosos que humanos realizam contra humanos nunca foram desconhecidos em nenhum período da história, que genocídio, banhos de sangue e tortura sempre ocorreram, que o mal — o mal em nós — nunca para de trabalhar, nós infiltramos nem tipo de pergunta a ideia de um Deus cujo incessante dever é, através dos milagres, proteger os seres humanos contra seu próprio mal e torná-los felizes, apesar de suas feridas autoinfligidas. Mas um Deus que atua como um poder mágico a serviço de nossas necessidades prevalecentes nunca foi realmente o Deus da fé cristã ou o Deus de qualquer outra grande fé — por mais frequentemente que essas impressões apareçam nas religiões populares. Do contrário, seria de se esperar que os primeiros mártires cristãos tivessem perdido imediatamente a fé, visto que Deus não lhes ofereceu nenhuma ajuda milagrosa para libertá-los das mãos de seus algozes. A crença em milagres sempre esteve naturalmente lá, mas também o aviso de que nunca se pode confiar em milagres.
Não, Auschwitz e Kolyma não são a causa do ateísmo. Muitas pessoas sucumbem à tentação de considerá-lo, porque tais monstruosidades eram obra de pessoas sem Deus, que deviam ser usadas na defesa da causa de Deus. Mas essa tentação é perigosa porque a história contém muita crueldade nas mãos dos piedosos.
As pessoas de hoje que observam o mal em seu tempo não são movidas por ele à descrença. A maneira como eles percebem o mal já é determinada por sua incredulidade, de modo que suas percepções do mal e da incredulidade são reciprocamente fortalecidas. O mesmo vale para os crentes. Eles percebem o mal à luz de sua fé, e assim sua fé não será enfraquecida a cada momento, mas sim afirmada. Portanto, não é crível que o mal em nosso tempo torne a presença de Deus duvidosa. Não há nenhuma conexão lógica ou psicológica convincente.
O mesmo também é verdade para a ciência. Mesmo que Pascal tenha descoberto com horror o “silêncio eterno” do infinito espaço cartesiano, tanto o silêncio quanto a linguagem de Deus estão de fato no ouvido daquele que ouve. Sua presença ou ausência é na crença ou incredulidade, e cada um dos dois, uma vez adquirido, será necessariamente afirmado por todas as observações.
O significado do Iluminismo sem Deus ainda não foi revelado, porque o colapso da antiga crença e do Iluminismo — diante de nossos olhos e de nossas almas — é refletido simultaneamente. Vivemos em um “período de transição”? Dizer isso é quase tautológico: nunca houve na história outra coisa senão períodos de transição. Mas para onde estamos transitando? Isso não podemos saber. Pode-se afirmar com plausibilidade que o Iluminismo, juntamente com sua falta de Deus, era a condição de todas as realizações intelectuais e técnicas da modernidade. E, no entanto, o “desconforto com o Iluminismo” agora se torna ainda mais tangível. Carl Gustav Jung estava certo quando disse que nos arquétipos mitológicos, a morte de Deus sempre precede a Sua ressurreição? Vivemos, portanto, no tempo horrível entre sexta e domingo, durante o qual o Redentor, já morto e ainda não ressuscitado, visita o inferno? Nós também não podemos saber disso. Temos certeza apenas da nossa própria insegurança.
Finalmente, um ponto sobre coincidências. Considere os seguintes contrafatuais históricos:
• No ano 490 a.C. o exército persa, como esperado, aniquilou a infantaria muito mais fraca dos atenienses em Maratona.
• No ano 44 a.C. Júlio César, aos cinquenta e seis anos, seguiu o conselho do vidente Spurinna e não foi ao Senado.
• Em 33 d.C., à pergunta de Pôncio Pilatos sobre quem deveria ser libertado, a turba em Jerusalém gritou: "Jesus!".
• Em 1836, Wolfgang Amadeus Mozart, aos oitenta anos, morreu em Viena.
• Em 22 de dezembro de 1849, um jovem russo chamado Fiódor Mikhail Dostoiévski foi morto a tiros por seus atos revolucionários em São Petersburgo.
• Em 30 de agosto de 1918, Fania Kalpen atirou em Vladimir Ilyich Lenin até a morte.
• Em agosto de 1920, o marechal Pilsudski cometeu um pequeno erro, resultando na ocupação do primeiro Exército Vermelho em Varsóvia, depois na Polônia e depois na Alemanha.
• No ano de 1938, Adolf Hitler morreu de um ataque cardíaco.
• No ano de 1963, Joseph Stalin morreu.
O que tudo isso tem a ver com Deus?
A História é tecida a partir de pequenas coincidências. Isso significa que se há um plano e uma razão na História, só pode ser o plano de Deus e a razão de Deus. Nenhum de nós sabe o que pode ser. Mas não podemos querer abandonar o desejo de saber.
Depois que tomamos consciência do vazio das coincidências históricas, elas se tornaram nossos próprios vazios internos. Isso tudo é banal? Certamente. A causa da crença como a da descrença é banal, porque é onipresente.
Para o incrédulo, a preocupação sobre Deus é uma preocupação disfarçada com o mundo. Para o crente, a preocupação com o mundo é uma preocupação disfarçada sobre um Deus que não é conhecido pela vontade. Para ambos, no entanto, o mundo está repleto de inquietação. É uma inquietação que, corretamente interpretada, revela que a vitória do Iluminismo sem Deus e autossuficiente nunca pode ser definitiva ou completa. Sua suposta vitória é consumida pela ambiguidade e contradição, e seus sucessos trouxeram tantas novas incertezas, que nossa era só pode ser devidamente descrita como aparentemente sem Deus. A impiedade tenta febrilmente substituir o Deus perdido por outra coisa. O humanismo esclarecido propõe uma religião da humanidade. Nietzsche já enxergava através da vaidade dessas substituições artificiais. Os seguidores de Comte e Feuerbach no século XX — como Erich Fromm ou Julian Huxley — parecem os menos convincentes de todos os ímpios.
É claro que Deus pode esquecido como moralmente perigoso, negado como inacessível à razão, condenado como o inimigo da humanidade e excomungado como a fonte da escravidão. Mas se o Absoluto fosse realmente esquecido, seria desnecessário substituí-lo por algum substituto finito. Mas, é claro, o Absoluto nunca pode ser esquecido. A inesquecibilidade de Deus o torna presente, mesmo na rejeição.
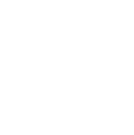



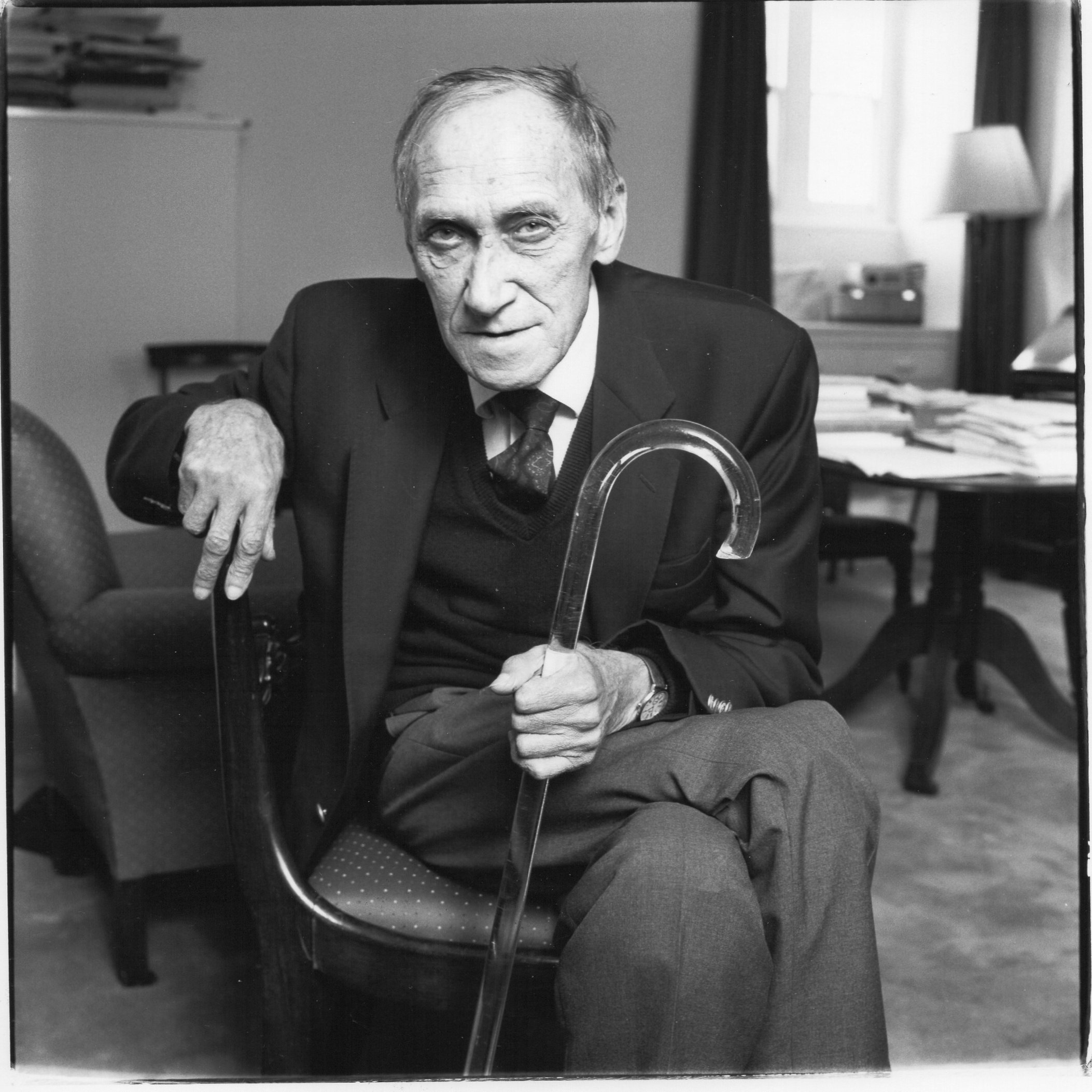







Comentários
Não há comentários nessa publicação.